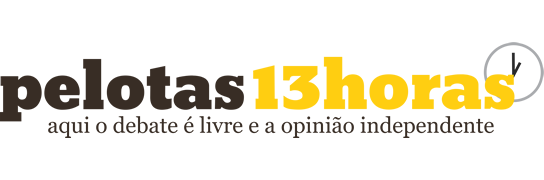ZONA DA LUZ (1)
Lourenço Cazarré*
Ordenaram-me os deuses da escrita que, para contar as aventuras de gente que viveu e morreu na Zona da Luz (onde residi entre 1963 e 1966), começasse com um causo protagonizado pela minha bisavó materna, a portuguesa Rita Maria, lá pelos meados dos anos 1940.

A Vovó, como era conhecida pelos seus quase incontáveis (mais de 15) netos pelotenses, faleceu em 1951, quando estava com 75 anos. Muito tempo antes, porém, sua cabecinha já andava rateando.
“A Vovó estava já meio caduca. Não atinava com as coisas. Roubava escondido comidas das panelas”, me contou dias atrás a Dadá (91 anos), sua neta mais nova, a única ainda viva.
Pois bem, seguidamente, a Vovó saia a passear sozinha por Pelotas para visitar parentes ou amigas, integrantes todos da colônia lusitana, então numerosa.
Nessas suas andanças, ela costumava se orientar pela torre da Igreja do Porto, porque morava a poucas quadras dali. Certa vez, porém, se confundiu e acabou desembarcando na Igreja da Luz, do outro lado da cidade, a uns cinco quilômetros de distância.
Foi salva por um carroceiro da Várzea que a reconheceu e perguntou: “O que a senhora está fazendo aqui, vovó?” Ela respondeu com outra pergunta: “Que igreja é esta, meu filho? Acho que estou perdida!”
O carroceiro deu-lhe então uma carona até a Bento Martins na junção com a Tiradentes, onde Vovó morava com sua filha Henriqueta, minha avó materna.
O homem queria porque queria deixá-la na porta da casa da família, mas a velhinha pediu para descer antes, a fim de que ninguém soubesse da sua peripécia.
Aconteceu, porém, que o Alemão Milton, baita brincalhão, dono do armazém Centenário, que ficava também na confluência daquelas ruas, viu o desembarque. Curioso, interrogou o carroceiro, soube da história toda e depois a passou ao meu avô, Alfredo, que se divertiu uma barbaridade recontando depois, para todo mundo, o percalço da sogra.
Alerta aos leitores
Antes de avançarmos por esta longa história devo advertir aos improváveis leitores que a Zona da Luz aqui tratada não é exatamente aquela definida pelos arquitetos da prefeitura. Se é que um dia o foi.
Aqui, Zona da Luz é toda aquela região que vive na memória de gente saudosa, alguns já virando o velocímetro dos 80 invernos, muitos deles há mais de meio século morando no exílio.
Feita essa advertência, que me foi soprada por um amigo que tem tarimba e malícia de águia, sigamos.
Retificando: pensando bem, esse amigo tem mais é a sabedoria da Garça, que passa a vida na beira dos rios, sempre comendo, mas sem molhar as pernas.

A rua de uma quadra só
Rumo agora aos anos 1960. Quando minha mãe, Odete, adoeceu em Bagé, em fevereiro de 1963, o pai decidiu enviar-nos, a mim e a minha irmã, Margarida, para casas de parentes em Pelotas.
A Marga acabou indo morar na Vila do Sapo com as irmãs da mãe, as tias Dadá (Edith) e Lilía (Maria), e eu fui remetido para a casa do vô Leovegildo Cazarré e da vó Edméa na Rua da Luz.
Acho que antes disso, em férias escolares, quando ainda morava em Bagé, visitei meus avôs por ali.
Pelo que sei, eles moraram em duas casinhas naquela rua de uma só quadra (entre Gonçalves Chaves e Anchieta) e que tinha residências apenas em uma de suas bandas. Eu realmente só me lembro da casinha que ficava mais próxima da Gonçalves Chaves.
Minhas lembranças mais fortes da Zona da Luz me vêm, porém, de uma outra casa, a terceira que meu avô alugou naquela região. Ficava na rua Rafael Pinto Bandeira, no meio do quarteirão que, na época, passava por cima do canelete do Pepino. Uma quadra que também era conhecida como “a baixada do Pepino”.
Canarinhos e rapadurinhas
Há algum tempo me reencontrei em Brasília com outro morador da Rua da Luz, o engenheiro agrônomo José Cordeiro de Araújo (fora de Pelotas desde 1972), cuja família residia na esquina com a Gonçalves Chaves. Depois de trocar com ele uns e-mails saudosos, resolvi escrever este artigo.
Embora tenha morado por pouco tempo naquela ruazinha, eu me lembrava bem dos filhos do advogado José Silva de Araújo: Tirzah, dentista, Solon, Eduardo e José, todos agrônomos. Tirzah e Solon eram mais próximos de idade do meu tio Antônio Milton, nascido em 1939.
José Araújo disse-me então que se recordava dos canários criados pelo meu avô e também das inigualáveis (palavra dele) rapadurinhas de amendoim fabricadas pela vó Edméa.
Nas casas do meu avô sempre havia um bom número de canarinhos belgas, espalhados por muitas gaiolas e alimentados com gema de ovo cozido. As rapadurinhas apareciam de vez em quando na hora da sobremesa.
Trabalho precoce
Segundo meu pai, as rapadurinhas de amendoim da vó Edméa contribuíram por longos anos para reforçar o orçamento da família. Policial Militar que se reformou como sargento, o vô sempre viveu modestamente.
O pai gostava de dizer que começara a trabalhar aos 6 anos de idade, entregando rapadurinhas em São Lourenço do Sul, cidade para a qual o vô foi destacado por um tempo. O mesmo dizia o tio Milton, 14 anos mais moço que o pai, que circunscrevia sua atuação só às ruas da Princesa do Sul.

Pombos
Na Brigada Militar, meu avô exerceu uma função peculiaríssima: era columbófilo. O que significa isso em linguagem humana? Columbófilo é aquele que treina pombos-correios.
Lá pelos anos 1930, quando não havia linhas de telégrafo – nem se falava ainda nas telefônicas! – ligando as cidades da região Sul do Continente de São Pedro, as mensagens trocadas entre as unidades da briosa Brigada Militar eram levadas por pombos adestrados.
Escritas em papel fino, essas mensagens eram presas em anéis de metal que envolviam as patas dos pombinhos.

Um agricultor entre gente citadina
Nas duas casas em que vivi na Zona da Luz, eu sempre assisti às incontáveis idas e vindas do vô pelo pátio, ao longo do dia, tanto para escavar os canteiros quanto para mudar de lugar as gaiolas (para livrar os passarinhos do sol forte no verão ou para aquecê-los no inverno).
Jamais soube por que motivo ele gostava tanto de remexer nas árvores e nos canteiros, nos quais plantava flores e verduras. De onde lhe vinha essa vocação rural?
Pelo que sabemos, nossos ancestrais bascos franceses, chegados lá por 1850, sempre viveram no Brasil de profissões urbanas.
Meu bisavô, também Leovegildo, conhecido como Lilico, foi porteiro do Cine Apollo e, no fim da vida, vigia das antenas da rádio Pelotense.
Já meu trisavô, tratado como João Cazarré Grande, teria sido gerente de um estabelecimento de diversão masculina, cujo quadro operativo era integrado por moçoilas vindas da Europa, nas proximidades do hoje Clube Caixeiral.
A árvore do pecado
Na Rua da Luz morávamos exatamente em frente à casa em que residia o pároco, o padre José Schramm, quarentão. Moravam com ele seus pais, já velhinhos. Entendiam-se em alemão, acho.
Bem, o pátio da casa do padre tinha uma árvore que nos tentava. Não, não era uma bíblica macieira. Era uma simples laranjeira ou uma reles vergamoteira. Que num certo dia, provavelmente industriados pelo Capeta, eu e outros moleques saqueamos.
Aquela indigesta fruta roubada transformou-se, por um bom tempo, no fantasma da culpa que me apavorava toda noite, quando, já deitado, eu examinava os meus muitos pecados e as minhas raras boas ações praticadas durante o dia.
Pouco depois, o obrigatório exame de consciência prestado toda noite ao travesseiro, pelos guris e gurias da minha geração, saiu de moda.
Aos dois papagaios
Por falar em frutas, preciso me referir também às bananas. Na casa dos meus avós sempre havia um cacho de bananas no chão da cozinha, encostado na parede. Quem estava com fome, pegava uma na passada e saía mastigando. Naquela época, comprava-se bananas em cacho.
Me ocorre agora que o vô tinha caderneta no armazém Aos Dois Papagaios. Num tempo sem cheques ou cartões de crédito, as compras eram anotadas em uma cadernetinha e quitadas no final do mês quando entrava o ordenado (salário).
Esse armazém, que ficava na Avenida Bento Gonçalves, nas proximidades do quartel da Brigada, ostentava no alto de sua fachada duas “estátuas” dessas irritantes aves faladoras, daí o nome.
Histórias inventadas
Aquele que considero o meu primeiro conto, intitulado “A enchente”, escrito em 1980, e que integra o livro Histórias suburbanas (1986), tem como cenário a Igrejinha da Luz.
Imaginei que Pelotas fora invadida e submersa pelo São Gonçalo. A ação se passa toda dentro daquele pequeno templo, que mais adiante daria lugar a uma construção, digamos, mais modernosa. Aliás, até hoje há muita gente que não se conforma com a substituição da velha igrejinha.
Já o meu conto “Meia encarnada dura de sangue” (do livro Noturnos do amor e da morte) tem como cenário um certo final de tarde na Pinto Bandeira em que um velho loroteiro conta aos passantes o causo do primeiro jogador profissional de futebol da cidade.
Contadores de causos
Nunca deixo de dizer, sempre que interrogado a respeito da minha perversão (literária), que só sou um redator de histórias porque sou filho e neto de dois reconhecidos bons contadores de causos, meu pai e meu avô.
Três igrejinhas
Voltando. A atual igreja da Luz é a terceira e não a segunda naquele local, como pensa muita gente. Inicialmente, existiu ali uma simples capelinha que era ligada à catedral. Funcionou entre 1824 e 1908 e nela se casou, em maio de 1883, com uma jovenzinha pelotense, chamada Honorina, um dos mais destacados homens públicos do Rio Grande do Sul: Júlio Prates de Castilhos.
A terceira igreja teve assentada sua pedra inaugural em 1967. Quando foi concluída, acho que em meados dos anos 1970, gerou forte bate-boca entre os paroquianos. Muitos jamais aceitaram bem o novo templo, considerado por eles como excessivamente modernoso.
Curiosidade: o padre José Schramm (falecido em 2013, aos 87 anos) que tocou a obra da nova igrejinha da Luz foi encarregado pela Mitra pelotense de construir mais uns 7 ou 8 templos na cidade.
O nome da rua
Houve uma outra rusga, também bastante forte, pela manutenção do nome da rua. Quem a relata é José Cordeiro de Araújo:
– A nossa rua sempre foi chamada Nossa Senhora da Luz, mas em certa época, por decisão da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores, o nome foi trocado para Dom João Braga. Essa nova denominação, que se manteve por um bom tempo, provocou a indignação de meu pai, que era advogado. Ele resolveu então recorrer às autoridades municipais. Depois de muita luta, foi atendido, mas a nova denominação não era mais a original. O nome passou a ser, como é até hoje, Rua da Luz.
Indagação
Hoje em dia, sempre que me lembro da nossa época na Luz, e eu me lembro frequentemente, me pergunto: como podia o vô morar num ponto tão central com um soldo tão modesto?
Não só ele. Moravam ali, em umas dez casinhas que pertenciam a uma só família, outras pessoas de profissões não exatamente bem remuneradas. Entre eles outro homem da Brigada, seu Luís.
Cachorrada
José Cordeiro de Araújo também se recorda de Seu Luís, que morava ao lado da casa do vô. Aliás, tem mais lembranças dos cachorros do Seu Luís, afamados por tentarem abocanhar as canelas dos guris que passavam zunindo pela calçada a bordo de suas bicicletas.
O santo despido
Corria uma intrigante e inocente piada entre os moradores da Zona da Luz.
Diziam os mais antigos que, certa vez, em ano não sabido, o então sacerdote da Igrejinha resolveu fazer um sermão sobre a pobreza.
Na noite da véspera, antes de se deitar, decidiu tirar as vestes da estátua de Santo Antônio. Seu objetivo com aquele gesto era impressionar os fiéis da primeira missa.
No dia seguinte, durante o sermão, depois de falar comovido sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas mais simples, o sacerdote, num gesto repentino, teatral, virou-se para a imagem de Santo Antônio e disse em voz:
– Vejam, caríssimos irmãos, este exemplo maior de penúria! Santo Antônio está nu…
Voltaram-se todos, padre e assistência, para a imagem do Padroeira de Lisboa.
Porém, para assombro de todos eles, o santinho não estava desnudo, como fora deixado na noite anterior pelo pastor de almas.
Homem de cérebro atilado, o padre imediatamente consertou:
– Está numa situação tão difícil que resolveu sentar praça!
Explicação da piada. O primeiro fiel a entrar no templo naquele dia, mal as portas haviam sido abertas, fora, sem sombra de dúvida, um policial militar, que, condoído da nudez de Santo Antônio, correu até sua casa, apanhou a primeira roupa que encontrou, sua própria túnica, e voltou às pressas para vestir o santo lisboeta.
Todos concluíram depois, que, obviamente, o autor da proeza só podia ser um brigadiano.
Mal qual deles? Havia dois na Rua da Luz. Seu Luís e meu avô.
O mistério permanece até hoje.
O lobisomem
De noite, para me meter medo, o vô jurava havia um lobisomem na nossa rua.
Contava ele que numa certa noite de sexta-feira de lua cheia uma bela mocinha saiu para passear no pátio de sua casa. Na verdade, uma vasta mansão, que pertencia a uma das famílias mais ricas de Pelotas.
De repente, saído das sombras, surgiu um enorme cachorro preto, que voou sobre a jovem romântica. No susto, a mocinha deu um salto e conseguiu escapar, mas com o seu belo vestido rosa de seda destroçado pelos dentes da fera.
No dia seguinte, os policiais percorreram os arredores da mansão tentando descobrir mais detalhes do aparecimento daquele monstro, que certamente era um lobisomem.
Chegando na Rua da Luz, eles foram recebidos por um homem que, ao responder a uma pergunta, mostrou uns dentões afiados entre os quais havia fiapos de sede rosa.
– Quem era esse homem, vô? – perguntava eu, encagaçado.
– Agora, dorme. Um dia desses eu te digo o nome dele.
*Jornalista e Escritor.