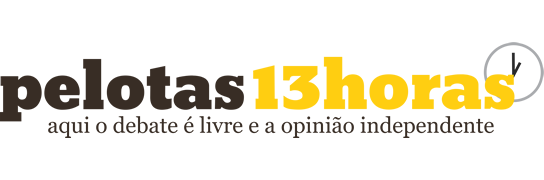A MISTERIOSA MORTE DE MIGUELA DE ALCAZAR
A MISTERIOSA MORTE DE MIGUELA DE ALCAZAR
Lourenço Cazarré e Pedro Almeida Vieira
- Sobre a incivilidade dos motoristas brasilienses
Mal deixei o estacionamento do jornal, passei pelo quadrado e cinzento prédio do Tribunal de Justiça. Imaginei que, àquela hora, os corredores deviam estar cheios de advogados, juizes, promotores, prisioneiros, acusados, acusadores, réus e depoentes – a escorregadia fauna que vive desse obscuro negócio chamado justiça.
Certa vez, um gatuno me deu uma esclarecedora definição:
– As justiças são duas. Tem a de primeira classe, que é a que protege os que têm dinheiro; e a de segunda, que é a que ferra os pés-rapados.
– Você esqueceu a justiça de Deus – ponderei.
– Essa não funciona mesmo – respondeu ele. – Você já leu o livro de Jó?
O meu interlocutor era um larápio de setenta anos, que entrevistei para escrever uma reportagem nostálgica sobre o tempo em que ainda havia certa dignidade no crime, quando bandido era bandido e polícia era polícia.
Numa cela superlotada de uma delegacia no Guará, depois de me relatar como se iniciara, ainda menino, como batedor de carteira nos bondes do Rio de Janeiro, ele disse:
– A coisa tá ruça! Já não existe mais ladrão. Só tem assassino. Todo assalto é arrematado à bala. Se o assaltado tem grana, leva um tiro na boca pra não falar depois de morto. Se não tem, leva dois pra ficar esperto.
Olhando para o Tribunal de Justiça, visualizei mentalmente milhares de processos amarelando em salas mal arejadas: milhões de páginas de péssima literatura servindo de alimento às traças.
A Justiça é uma grande e custosa brincadeira. Como se sabe, no final das contas, só uns poucos processos são julgados. Nos casos julgados, raros são os condenados. Dos condenados, raríssimos são os enjaulados. Todos pobres.
Dizem que no Brasil, de cada cem criminosos conhecidos, só vinte são denunciados e apenas um vai para o xadrez. Um cínico acrescentaria que esse único encarcerado é, em geral, inocente.
Não, eu não acredito nesses papos. Isso é coisa de comunista. Eu amo meu país assim do jeito que ele é. Tem um pouquinho de privilégio para os ricos? Tem. Mas, no fundo, no fundo mesmo, esta é uma nação verdadeiramente democrática.
Eram duas e meia quando eu – meditando sobre essas elevadas questões – entrei dirigindo a quarenta quilômetros por hora no Eixo Monumental. Os motoristas que vinham atrás de mim, indignados, cravavam o dedo na buzina. Mas eu, nem bola. Seguia no meu ritmo, impassível. Não podia correr porque meus pneus estavam totalmente carecas e eu precisaria de, no mínimo, uns duzentos metros para frear no asfalto molhado.
Logo que conseguiam sair da minha cola, esses motoristas incivilizados me ultrapassavam em alta velocidade, buzinavam, faziam gestos obscenos e gritavam palavrões. Conhecedor da linguagem labial, entendi que mandavam recados desaforados à dona Mimosa, gentil senhora que me trouxe a este mundo cão.
Minha pobre mãe, indiferente aos desaforos, àquela hora devia estar curtindo a sua sesta em uma cidadezinha perdida no Pampa, a dois mil e quinhentos quilômetros dali.
Passei de novo pela Estação Rodoviária, mas não olhei para a plataforma. Tive medo de dar de cara com um novo engavetamento e mais presuntos. Para os padrões do jornalismo policial, sou um profissional delicado: não aguento mais do que uma tragédia por dia.
Mais adiante, surgiram os prédios dos ministérios, alinhados como gigantescas caixas de fósforo. Verdes. Dentro deles, milhares de sujeitos – bocejando – lutavam bravamente contra a sonolência pós-prandial.
É dura a vida dos funcionários. Não é moleza ter que redigir, carimbar, protocolar e catalogar milhares de documentos cuja única finalidade é o arquivamento.
- Teoria sobre o desgaste das palavras
Contornei o edifício da Câmara dos Deputados. Pelas janelas envidraçadas, vi vários sujeitos dormindo pacificamente por trás de suas mesas. No espelho de água, na frente do prédio, deslizavam sete cisnes. Gordos. Um deles – pensei, a salivar – me resolveria o problema de falta de víveres até o dia do pagamento.
Na frente do Palácio do Planalto, virei à direita. Um soldado de guarda, arma na mão esquerda, tentava com o indicador direito capturar qualquer coisa perdida no interior de uma narina. Botava muito empenho naquilo. Parecia ser um jovem muito decidido.
Um rapaz que limpa a fossa nasal com tanta determinação – conclui – é capaz de dar sua vida pela pátria sem vacilar.
A chuva diminuía. Um cheiro bom de terra molhada invadia o carro. Tomado de forte excitação telúrica, botei a cabeça para fora e berrei:
– Primeiro Congresso Internacional dos Escritores de Histórias Policiais? Doidices do Medalhão!
Mas e se fosse verdade?
Respirei fundo. Algum preparo eu tinha. No ginásio, mergulhei de cabeça nos romances policiais norte-americanos e europeus. Li tudo que pude.
Neste ponto, devo reconhecer que nunca li nada de filosofia. Meu pai me disse certa vez:
– Livro de filosofia? Pra quê? Se um sujeito é suficientemente esperto pra descobrir um bom modo de viver por que vai falar dele aos outros? Guarda pra si o segredo desvendado. Só os escroques dão receitas, todas fajutas.
Cheguei, enfim, ao Imperial Hotel da República.
Terminada a chuva, o solzão brilhava lá em cima. A paisagem resplandecia, luminosa. Estacionei o “Revolução de Maio” à sombra do arvoredo e desembarquei. Gostosamente, enchi os pulmões com o ar úmido porque, dali a minutos, o ar estaria seco novamente. Atravessei o pátio em direção ao saguão penumbroso.
Enterrados no aconchego de amplos sofás de couro, uns dez sujeitos engravatados jiboiavam. Estavam na pose típica de quem comeu com dinheiro do governo: pança estofada, olhos sonolentos e beiços caídos.
Encarei um por um. Nenhum deles tinha jeito de escritor. No máximo, seriam rabiscadores de petições. Nenhum deles trazia nos olhos aquela chama de loucura que – achava eu – caracteriza os grandes romancistas do crime.
De gravador a tiracolo, já ligado, dirigi-me à portaria. Por trás do balcão, havia um sujeito pálido como defunto e de traços absolutamente impessoais, como todos os que atendem em hotéis do mundo inteiro. Recebeu-me com a mais gelada das cortesias:
– Pois não?
Seus olhinhos espertos deslizaram pela minha calça jeans, passearam pela minha camiseta de discutível limpeza, subiram para os meus cabelos desgrenhados e se fixaram, por fim, na minha barbicha rala.
– Gostou do tipo que eu faço, rebelde sem causa? – perguntei.
– O doutor deseja o quê? – retrucou impávido o cadavérico.
– Falar com o gerente desta espelunca.
– O senhor Batota não se encontra no momento. O doutor poderia me adiantar o assunto que deseja tratar com ele?
– Não! Se te adianto o assunto, acabo gastando os vocábulos.
– Interessante essa sua tese sobre o desgaste das palavras – debochou, impassível, o branquelo.
– Não tente plagiar! Já a registrei em cartório. Mas onde anda o nosso lusitano? Estará a vestir as peúgas? Ou estará a embarcar em um combóio?
– Por acaso, não – disse o porteiro. – Ele já está chegando aqui.
Mal ele pronunciou a palavra aqui, senti que uma senhora mão, gorda e forte, circulou meu frágil pulso direito. Uma força hercúlea movia aquela mão, áspera como lixa, dotada de dedos curtos e grossos como recortados de um cabo de vassoura.
Lamentei ter um punho tão delicado. Se tentasse me livrar do aperto, poderia quebrá-lo. Lembrei que o pai vivia insistindo para que eu praticasse esportes a fim de fortalecer os punhos, mas eu, preguiçoso, sempre me esquivava:
– E onanismo, pai? Não é esporte?
- A paixão do narrador pelos diálogos tensos
Lentamente, virei o rosto.
Acima da mão que me apertava o punho havia um braço curto e grosso, que terminava em um ombro possante. Acima do ombro, flutuava uma cabeçorra, na qual se destacavam dois olhos negros, faiscantes.
Aqueles olhos, sim, possuíam a tal chama desvairada que eu acreditava exclusiva dos grandes romancistas
Concluí que a cabeçorra pertencia a Manoel Joaquim Batota – o tal amigo do Medalhão – quando ele indagou no cantante sotaque da Lusitânia:
– Que queres tu de mim, pá?
– Em primeiro lugar, que não me quebre o braço – gemi. – Estou sem grana pra comprar um travesseiro e este bracinho tem me quebrado bem o galho na hora de dormir.
– Que lindo! – ele aumentou a pressão. – Pertences ao clube dos engraçadinhos? Gostas de contar piadas de português, né?
– Todo dia, não! – gemi mais alto. – Só quando me dá na telha, só quando me baixa a macaca, só quando me bate a passarinha…
– Deixa-te de brincadeiras! Quem te enviou para aqui?
O luso parecia assustado. Minha cabecinha de repórter policial se pôs a funcionar e eu já fiquei achando que ele estava com medo de ser assassinado. Teria ele cometido crimes em Portugal, antes de fugir para o Brasil? Teria, talvez, roubado barricas de vinho ao senhor pároco? Pertenceria ao cartel dos contrabandistas de bacalhau?
– Vim mandado por Medalha; vulgo Medalhão, o crente.
– Ele só me envia broncos – resmungou o português, e soltou meu braço. – Foste encarregado fazer a cobertura do…
– Vai haver mesmo um Congresso?
– Só Deus sabe – o gerente do hotel arrastou-me em direção a um corredor. – Vem comigo, pataroco.
O corredor terminava em uma parede de madeira que o português, silenciosamente, fez correr correu para o lado. Havia ali uma porta secreta.
Entramos em uma sala muito ampla e a porta se fechou sozinha por trás de nós.
Quando o gerente do hotel se encaminhou a uma mesa, próxima à janela que dava para o pátio do hotel, pude observá-lo melhor. Manoel Joaquim Batota media um metro e cinquenta e dois centímetros. Fazia absoluta questão daqueles dois centímetros. Tinha uma senhora barriga, que lhe nascia um pouco abaixo do pescoço e que lhe descia até quase os joelhos.
Sentou-se em uma cadeira giratória, por trás da mesa abarrotada de livros, e declamou:
– Tens diante de ti a maior reportagem de todos os tempos. No entanto, olhando para tua cara de parvo, pergunto-me se tens condições de entender e reproduzir o evento importantíssimo que vamos viver daqui a pouco. Sete dos maiores escritores de todos os tempos estarão reunidos, como amigos, neste hotel perdido no umbigo da América do Sul. Pergunto: terás tu, meu papalvo, recursos gramaticais suficientes para escrever sobre um acontecimento de tal grandeza?
– Devo ter. Já fiz coisas piores.
Sou assim mesmo. Não perco chance de complicar qualquer conversação. Aprecio diálogos tensos.
Minha frase irritou profundamente o lisboeta. Percebi que uma onda de raiva, partida do coração, escalou-lhe o pescoço e avermelhou-lhe a carantonha.
Falemos dessa cara. O que de início mais me chamou a atenção, como já disse, foram os negros olhos alucinados. Depois, me interessei pelas sobrancelhas, largas e compridas como bigodes de açougueiros. Aliás, unidas no meio da testa, elas formavam um insólito e vasto bigode aéreo. Do nariz, direi apenas que tinha a cor, o formato e as rugosidades de uma cenoura. Sua grande queixada proeminente lembrava a de uma baleia branca.
– Qual é o teu nome, pá?
– Campestre de Campos Campelo – respondi.
– Isso mais parece um pseudônimo.
– Podia ter sido pior. O pai queria que eu me chamasse Campesino. Ele era meio comunista. Mas dona Mimosa, minha mãe, bateu pé e eu fiquei sendo Campestre.