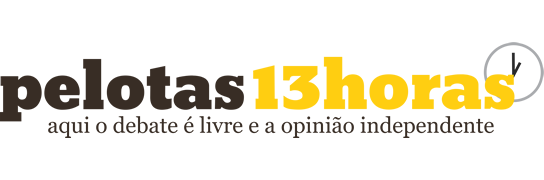Simões Lopes Neto encontra Tom Wolfe na era de Aquarius
Simões Lopes Neto encontra Tom Wolfe na era de Aquarius
Luiz Lanzetta*
“A caminho dos subterrâneos!
Vamos aos cortiços, já que estão no foco as visitas domiciliárias.
Há um grupo deles que têm nomes sugestivos e rebarbativos: há o “Beco do Sabão”, o “Curral das Éguas”, o “Corredor do Pimpão”, os “Sete Pecados”, etc relíquia.
Por feroz e zarro que seja cada qual destes é doutros cognomes, nem por isso os moradores armam revanches contra quem, os pronunciar…a não ser que o faça achincalhando as palavras para atingir as pessoas.
Existe nos cortiços a mina da criadagem…e um tesouro de psicologia.
Sabem quem é o tipo que discorre tão à vontade aí em cima sobre cortiços e psicologia? Não sabem e nem adivinham. Ele assina como João do Sul mas, no meu entender, podem tratá-lo, quem sabe, por Tom Lopes ou João Wolfe. E porquê? Antes, porém, vamos acompanhá-lo um pouco mais na sua jornada pelos becos e as vidas à margem:
“No dia do inquérito, em um deles, abordamos uma rapariga, tronchuda, que gozava o sol encostada à ombreira do portão geral. Pedimos-lhe informações sobre uma Maria qualquer, cozinheira, já mulher madura, preta, que tem um filho nas obras do Mercado…
- Não senhor, Maria…Maria com filho grande, não há nenhum aqui.
- Você mora aqui há muito?
- Quem, eu?…Três mês! É uma carestia desses quartos que uma pessoa não pode!…
- Quanto paga, de aluguel?
- Quem, eu?…Um roubo! Dezoito mil réis; já esteve por sete…; e tem-se que pagar por semana, quem não dá fiador. Ainda que mal pergunte: o senhor é da Higiênica? Eu, por mim, cuido! Veja.
E mostrou seu quartinholo, ali perto ; uns dois por dois metros, paredes encardidas, recobertas de figuras de reclames, pintalgadas de moscas; chão de tijolo, esboroado; uma cama de casal, pintada a roxo-terra; roupas em pregos; uma bacia rachada sobre uma caixa de querosene; dentro desta uma chaleira. Um caco de espelho, um facão, um violão e um fogareiro de barro completam a mobília, à vista”.
Sim, eu sei o impacto que vocês estão sentindo. Eu também, quando bati o olho no texto acima, em 2018, fiquei apoplético. “O Novo Jornalismo nasceu em Pelotas”, espalhei logo para um pequeno grupo. Fui afoito, como veremos.
O texto é da lavra de João Simões Lopes Neto, o pai da literatura regionalista. Data de mais de 100 anos. Foi publicado em 12 de julho de 1913, no jornal A Opinião Pública, de Pelotas, sob o título Um Corte de Criada. Ele teria criado também, sem saber, “a história como romance”, uma das descrições do inovador gênero jornalístico que fez sucesso nos anos 1970.
Ainda tonto com a descoberta, fui pesquisar. Visitando o Tio Google, verifiquei que já havia livro publicado a respeito e uma tese de mestrado. E ainda mais, por precedência de poucos anos, o inventor do estilo seria o carioca João do Rio, que já vinha publicando na dobrada do século coisas no mesmo estilo, com muito sucesso.
João do Rio e João do Sul, o nome com que Simões assinou seus “Inquéritos em Contraste”, foram praticamente simultâneos em suas criações.
(Aceitamos, em nome da Princesa do Sul, a honrosa medalha de prata).
O Tribuno Socialista
Outra surpresa foi a maneira como Simões expôs seu método de trabalho na apresentação da série de 17 reportagens que publicou ao longo de três meses em 1913. Com linguagem simples, ele diz que vai aplicar … o materialismo dialético. A dialética hegeliana que Marx e Engels turbinaram. A dialética que foi a grande chave metodológica para as descobertas e aventuras do marxismo.
Simões não lida com números ou com estatísticas. Observa com precisão os conflitos da realidade social e tira daí as suas conclusões. É um observador de costumes no melhor estilo de Honoré de Balzac, como admirava Marx. Só no contraste das conversas simples podem ser reveladas as contradições da sociedade.
Seu contato com a dialética materialista é delírio meu. Ele teria conhecimento do grande embate entre anarquistas e comunistas, principalmente a partir do Manifesto Comunista. O Capital, obra máxima de Marx, ainda era pouco conhecido no Brasil na alvorada do século 20. Mas já havia uma enxurrada de jornais operários, obra de imigrantes italianos e espanhóis, quase todos anarquistas.
Em 1878, circulavam três periódicos assim no Brasil: Internacional Socialista, em Salvador; O Socialista, no Rio de Janeiro e O Tribuno Socialista, em Pelotas. Vejam a nova façanha pelotense.
Também escritores como Ruy Barbosa, Tobias Barreto, Sílvio Romero e Euclides da Cunha tinham feito referências a Marx e ao comunismo, nem todas elogiosas.
O escritor predileto de Simões, Machado de Assis, tem uma crônica em que satiriza a chegada de um socialista russo ao Brasil, na Gazeta de Notícias, de 13 de janeiro de 1885.
Então, se Simões não era dialético por leitura, era por intuição.
Nos jornais, era época em que ainda não se transformavam os fatos em campos de futebol, voltas na terra ou casas populares, métricas absurdas do jornalismo plastificado de uns tempos para cá. Os manuais, a partir dos anos 1980, expulsaram das redações a metodologia que as ciências sociais vinham injetando na descrição da realidade.
Simões era dialético e não sabia
Não foi a ditadura militar (1964-1985), mas os catecismos de adestramento de focas indefesos que empobreceram o estilo – estes feixes de regras que ensinam a escrever feio e dão todo o poder às fontes luminosas, padronizando textos e comportamentos, criando a grande holding do pensamento único.
Simões era dialético e não sabia. Por este método, se “alguém é ligado à alguém”, posso colocá-lo também no colo do positivismo, uma vez que guerreou ao lado dos castilhistas. Mas ele rompeu com A Federação, jornal do Partido Republicano Riograndense, de Júlio de Castilhos.
Era contra o jornalismo de consenso e partidário. Ficou isto no ar.
De volta ao método simoniano:
“Nestes rápidos Inquéritos vamos tão somente esmiuçar a nossa pequena vida social provinciana, pacata, de dedo no nariz, dada a fazer nós no lenço, e mesmo passo sustentando certas graças do espírito, certo saber moer dinheiro, não espantadiça de uns tantos rasgos largos, providos do além, e gestos e tons e procederes que se têm adaptado e proliferado e aí vão medrando, que é um gosto examiná-los…
O contraste deles está em que as causas e os efeitos, que parecem repelirem-se, são elos lógicos que aparentando discordância reforçam-se em íntima concordância”.
O “Capitão da Guarda Nacional” (ele fazia ironia com a patente), era muito sensível ao baixo proletariado, principalmente quando se aproximou economicamente deste. Chegou a ser escolhido porta-voz de um pioneiro manifesto de operários com reclamações trabalhistas em Pelotas no século 19.
Era também um tanto anticlerical. Quando foi empresário no setor de tabaco, criou os cigarros Marca Diabo. Justo quando os concorrentes tinham nomes de santos da Igreja Católica. Ele atribuía aos padres e as senhoras carolas a culpa pela quebra da sua fábrica.
Na apresentação dos Inquéritos em Contrastes, Simões menciona também as capitais do mundo, com suas mil mazelas, e alude a autores que já estavam abordando em suas obras literárias — que também eram folhetins de jornais — o ambiente social de contrastes e injustiças. Como 60 anos depois, fez o norte-americano Tom Wolfe, um jornalista com doutorado em literatura, que buscou em Honoré de Balzac e Charles Dickens as suas referências para o conceito do Novo Jornalismo, por ele assim batizado.
Se um desses textos de Simões no outono/inverno de 1913 viajasse no tempo sem escalas e aterrissasse em 1973 na redação do Diário Popular, também de Pelotas, o autor seria recebido como um messias, visto que por ali já habitavam cabeludos que liam e fumavam outros papéis.
Simões descobriria que o mundo já fazia um jornalismo que ele, no início do século, intuíra e praticara e que somente víria à tona muitas décadas depois.
Pelotas nunca teve pressa com o seu maior escritor. Nem carinho. Nem nós tínhamos muito conhecimento ou curiosidade para sua literatura, só descoberta 30 anos após sua morte, em 1945. Os pelotenses tisnavam-no de “azarado” e sua viúva havia se livrado de sua biblioteca, arquivos e inéditos.
O Diário foi o paradeiro de Simões muitas vezes ao longo da vida. Ali também eram guardados os arquivos da falecida A Opinião Pública, seu último emprego. Além dos escritos, Simões foi inventor e empresário em vários ramos, acionista e dono de publicações, e morreu como mísero assalariado.
“É a metáfora da cidade”, como muito bem descreve a jornalista e acadêmica de literatura Patrícia Lima de Lima. Simões, neto de um dos homens mais abastados do Estado, o Visconde da Graça, ficou miserável. Como a cidade, rica mas depois pobre, preservando vernizes da cultura clássica.
Pausa para passar um pano em Rio Grande
Os “Inquéritos em Contraste”, grande marca da genialidade de Simões, só ganharam a Academia em 2016 por iniciativa da riograndina Patrícia, que apresentou uma fundamental tese na UFRGS. Por tal tarefa, os pelotenses podem perdoar o fato de Rio Grande, com seu estratégico porto, ter permanecido fiel aos imperiais durante toda a Revolução Farroupilha, ao lado de Porto Alegre.
Por ter se mostrado inexpugnável a Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi, Rio Grande obrigou o italiano pegar a mulher, Anita, três mil cabeças de gado, e rumar ao encontro dos italianos e da pena de Alexandre Dumas.
Recolhido o paninho…
Retomando a nossa viagem no tempo, em 1973, estava na redação do Diário, a sobrinha-neta de Simões, Ivete Massot, que publicaria no ano seguinte, em 1974, um volume de suas memórias junto ao parente famoso. Sessenta anos após a morte do escritor. Ninguém perguntava a Ivete sobre seu tio-avô, ainda que ela publicasse diariamente a instigante coluna Tempos Idos.
Estava lá, no baixo clero da animada redação, o João Pedro Lobo da Costa, descendente do poeta local, que até então fora a grande referência entre os letrados e boêmios da cidade. Lobo da Costa morreu na sarjeta. Era o poeta bêbado e tísico que tanto admirávamos.
A redação dividia-se entre os experientes que militavam com afinco na tradicional birita – havia quem sugerisse que fosse aberta uma passagem direta para o prédio ao lado, um bar infecto chamado Salu, para não se perder muito tempo e não enfrentar a claridade do dia percorrendo alguns metros de calçada. Havia gente que gastava mais tempo no bar do que na redação.
Quando a noite vinha, a sala da revisão e o estúdio de fotografia viravam abrigo do povo barbudo e cabeludo, recém chegado ao experimentalismo em outras viagens.
E o João Pedro, o parente do poeta, habitante de casas de cômodos, iguais à descrita no Corte de Criada, porque gostava, militava nos dois grupos.
Não devia nada em seus hábitos de consumo líquidos, gasosos e farmacêuticos ao colega Hunter S. Thompson, (Medo e Delírio em Las Vegas), alucinação rutilante que já despontara para o Novo Jornalismo em terras do Norte.
A regra era que regras não se aplicavam
Aliás, se textos de Thompson, Tom Wolfe, Gay Talese e Jimmy Breslin se encontrassem com os Inquéritos em Contraste, se reconheceriam como irmãos. Ou, quem sabe, sobrinhos daquele tio avô das terras do extremo sul da América.
O espantoso é que, ainda que curta, esta produção específica de Simões deu-se num período de seu declínio físico e financeiro, a três anos de sua morte. Os jornalistas americanos foram universitários, tinham prazos largos e altos salários. Talese ganhou oito anos para escrever A Mulher do Próximo. E Wolfe fez pós-graduação em literatura.
A regra número um do Novo Jornalismo era que antigas regras não se aplicavam. Foi a forma que os espíritos mais libertários do jornalismo encontraram para participar da grande orgia política, sexual, filosófica, musical e de todas as artes dos anos 1960/70.
Por exemplo, Michael Herr. Ele cobriu a guerra do Vietnã para a Rolling Stone e saiu do Sudeste Asiático como mais um guia iluminado do New Journalism. As reportagens de Herr para a revista alimentaram o roteiro de Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, filme que se tornou um dos marcos da Nova Hollywood. Na Rolling Stone também brilhava Hunter S. Thompson, com suas matérias movidas a coquetéis bombásticos.
Thompson já vendera 800 mil exemplares do seu livro-reportagem sobre uma viagem alucinógena e suicida com os Hell’s Angels, colocando o filme Easy Rider (no Brasil, Sem Destino), que revelou Jack Nicholson, como um inocente passeio de triciclo pelo parque.
Surgia o “jornalismo gonzo”, espécie de sublegenda do Novo, que seria mais ou menos assim: faça matérias correndo risco de vida, embalado por qualquer combustível, legal ou não, desde que seja muito.
Um ex-editor da Rolling Stone lembra-se de Thompson assim: “Hunter precisava de um apocalipse acontecendo o tempo todo. Mas sua escrita era absolutamente elétrica, era uma tremenda diversão trabalhar e sair com ele. Eu era flexível o suficiente para lidar com Hunter, mas ele era bruto com muitas pessoas”.
Jimmy Breslin, que atuava no submundo nova-iorquino, era amigo de tipos suspeitos e não aceitava flertar com qualquer tipo de consenso.
Enviado a cobrir os funerais do presidente John Kennedy, em Washington, não fez o que milhares de jornalistas estavam fazendo naquele momento e local, lotado de personalidades de todo o mundo. Breslin entrevistou o coveiro. Matéria imperdível.
De volta ao Diário e na linha do vamos pela contramão, caiu no nosso colo um assunto proibido: racismo nos Centros de Tradições Gaúchas, os CTGs. Era prática considerada normal, mas começava a incomodar. Nossa geração não resistia a sedução de uma arapuca.
Antes, um “causo” verídico:
Como exemplo do alheamento pelotense o obra de seu maior escritor, narro o episódio que testemunhei. Rodava-se em Pelotas o filme O Negrinho do Pastoreio, que projetaria nas telas o mais conhecido personagem de Simões. Nem tão popular assim na cidade, como veremos.
Na falta de um adolescente preto para o papel, a produção contratara o já sexagenário ator Grande Otelo para fazer o personagem título.
Na coletiva que apresentou o elenco e anunciou o começo das filmagens, um radialista pergunta ao veterano ator:
— Como vais esconder a perna?
E Grande Otelo:
— Mas não é o Saci Pererê…
Nem racista nem machista
A confusão era pertinente. Nos anos 1970, ninguém cantava o hino dos farrapos. Se as torcidas de Grêmio e Internacional cantassem o hino republicano, como hoje fazem, incorporando um orgulho que não podem ter, corriam o risco de serem vaiadas ou presas. Porto Alegre sempre foi aliada do Império do Brasil. Comandou o ataque aos farroupilhas durante os quase 10 anos de revolução. Incansavelmente.
Não havia nenhum lugar de música regionalista em Pelotas e Porto Alegre. Tudo se concentrava nos CTGs, lugar de culto ao patrão machista e racista da estância. A grande figura de bombacha era o Teixeirinha e seu “churrasco de mãe”.
Simões fundara a União Gaúcha. Não era ainda, no início da século passado, o movimento que depois trocou o folclore pela história. As intenções do fundador eram as melhores. Ele não sabia o que poderia acontecer no futuro. Simões nunca foi racista.
Seu parceiro, no auge das operetas satíricas que escrevia, era o maestro Manoel Acosta y Oliveira, um preto uruguaio, argentino ou cubano, conforme as versões.
Simões tampouco era machista. Abrigou uma irmã que era mãe solteira. Era preciso coragem.
Seu envolvimento com o movimento tradicionalista era a sua maneira de se envolver em tudo na cidade: foi presidente do Clube do Ciclista e da Biblioteca Pública; trabalhou pelo bonde elétrico e pelo porto no canal São Gonçalo. Deixou a União Gaúcha para fazer palestras sobre civismo pelo Rio Grande do Sul e escrever um livro sobre educação.
Em 1973, nós vivíamos no embalo de “para viajar no cosmo não precisa gasolina”, do Ney Lisboa.
Em Porto Alegre, consumiu-se tanto mequalon e mandrix, junto com maconha, base do coração e mente do “magro meleca”, que até a terceira geração de porto-alegrenses ainda fala com a língua arrastada. Foi a grande contribuição comportamental ao Rio Grande do Sul, dos anos 1970, aquele sotaque ridículo. Ficou no DNA.
Deu pra ti, portinho, a mais leal e valorosa. Vai cantar loas ao teu aliado maior, o Duque de Caxias.
“Já podeis da pátria filhos Ver contente a mãe gentil”, eis o teu hino, Porto Alegre, o do Império.
Terminado o “causo” e as vinganças pessoais, voltamos ao nosso desafio ao tema proibido: o racismo nos bailes dos CTGs. E o fato ocorreu justamente no 20 de Setembro, data em que se comemora a gloriosa epopeia guasca de 1835, em Piratini, primeira capital da República Farroupilha.
A confusão foi grande e a Folha da Manhã, de Porto Alegre, em 1 de outubro de 1974, descreveu–a assim:
“Quando o Diário Popular circulou em Pelotas e nos municípios vizinhos com a notícia sobre o racismo em Piratini, muita coisa mudou na região. Todas as rádios deram a notícia em edição extraordinária. As autoridades envolvidas no fato providenciaram, imediatamente, os costumeiros e lacônicos desmentidos.
No entanto, o fato ficou evidenciado. Em Piratini, o promotor providenciou a abertura do inquérito. Na edição seguinte, no mesmo jornal, e novamente em primeira página, surgiu uma outra denúncia. Desta vez, do técnico agrícola Júlio Madruga, negro, confirmando a discriminação racial em Piratini. Segundo ele, lá todos os brancos são racistas, sem exceção, e ainda consideram que os negros devem ser escravos”.
A matéria da Folha da Manhã:
“Maria, vestida de prenda, não pode entrar no CTG. Ela é negra
O porteiro só olhava aquela jovem vinda de Pelotas. Ela vestida pilchada: camisa branca, uma longa saia azul com renda na ponta e um chale por cima. E sorria muito entre os 11 colegas – prendas e peões – que aguardavam o início do baile, defronte ao CTG 20 de Setembro, em Piratini. Às 21h30min, quando o grupo se aproximou da entrada, o porteiro esclareceu o motivo do olhar atento. “Só tem um problema. Aquela moça negra não entra. Porque nem o médico da cidade, um negro, não entra aqui”. Meia-hora depois um rapaz, também negro, ouviu proibição semelhante.
Convidados, por pertencerem ao CTG Rancho Grande do CAVG, Maria Luiza Madeira, 19 anos, e José Mariatti, 21 anos, foram os dois negros que sofreram discriminação racial em Piratini, na sexta-feira, 20 de setembro, numa festa da epopéia Farroupilha. Seus colegas aceitaram o fato passivamente”.
A reportagem era do iniciante Caco Barcelos, as fotos e as ilustrações dos negros Jurandir Silveira e Magliani, respectivamente. A artista plástica, nascida em Pelotas, nunca vinha a cidade por causa do racismo. Não se editam mais matérias assim.
A Folha da Manhã, criada por José Antônio Severo, egresso da lendária revista Realidade, e tocada depois por Elmar Bones, na sequência o líder do Coojornal, e até hoje fazendo imprensa independente no Rio Grande do Sul, era o nosso Novo Jornalismo. Experiências únicas na história gaúcha.
A Folha da Manhã, de curta duração, não resistiu às pressões do regime e a decadência da Cia. Caldas Júnior.
A Folhinha, nosso marco do neogaudério, inspirava-se no Jornal do Tarde, de São Paulo, criado por Mino Carta, na época o mais revolucionário periódico do país. Estilisticamente. Lá brilhava, naquele período, Marcos Faerman, gaúcho de Rio Pardo, que simbolizou nas décadas de1970/80 o chamado jornalismo literário, o nome que Truman Capote deu ao Novo Jornalismo. Marcão criou Versus, alternativo de reportagens.
Em 1976, participamos de uma mesa num Encontro Nacional da Imprensa Alternativa, na Assembleia gaúcha. Reinaldo, pelo Pasquim, Marcão, pelo Versus, e um representante do Triz, de Pelotas. Sorry, periferia.
Marcão foi uma espécie de superstar do Novo Jornalismo brazuca. A plateia que lotava o plenário estava ansiosa por sua apresentação.
Houve uma certa “preparação”, anterior, para todos ganharem coragem para as palestras. Fumei tanto do “encorajador” que não lembro o que falei.
O motivo da relevância nacional do Triz, ainda que por um dia, foi por causa da escolha de outra pauta tabu: a fama de homossexuais dos pelotenses.
(Não deixe de ler 50 Tons de Rosa, Pelotas no Tempo da Ditadura, editora Artes e Ofícios, 2016, RS).
A Belle Époque se junta a Woodstock
De volta ao passado e ao basfond pelotense, 1913. Continua a narrativa simoniana como introdução à trajetória de seus “seguidores” internacionais dos anos 1970.
Um Corte de Criada
- Escute: você é casada?
- Quem, eu?…Sou, sim, senhor pelo cartório e pela igreja; e o meu rapaz, também. Mas não se demos muito bem…e cada um se separou do seu casado, e então deu a sorte de nós juntarmos. Tirante de ser farrista, ele é bom rapaz; está esperando emprego no “eletre”…
- A senhora é costureira, lavadeira, cozinheira?…
- Quem? eu…Não senhor, eu vivo em casa. Não gosto de mostrar as minhas faltas aos outros…; e sempre que posso vou às fitas, só para moer as linguarudas!…
- Mas como então se arranjam vocês para pagar quarto, comer, vestir, ir às fitas?…
- Quem, eu?… Ora! a gente sempre se arruma; o rapaz faz um biscate; eu boto dois vinténs, três, às vezes um tostão, no bicho, na velha e na nova; quando a gente acerta, dá um pulo! Alugar é que não me alugo; já estou farta de aturar patroas, modas cheias de fidúcias e etiquetas…O sr está pensando? Há muitas que apertam o bucho e mandam poucas peças pra lavadeira, só para sobrar mais um bocado para irem ao cinema de chapéu chato e de vestido tremidinho…
- ..como, tremidinho?
- Ora! …O senhor até parece o homem dos cubos quando anda indagando quantas pessoas têm em cada casa…O senhor bem que me entende! O que custa muito é o carvão; estes vendeiros roubam a gente, que é um desaforo: um pinguinho assim, de pó, duzentos réis! ….Eles dizem que é por causa dos impostos…sei lá!
- Mas vamos lá: você não tem cara de necessitada!…
- Quem, eu? …Ah…e que tem um senhor que às vezes vem cá falar com o meu rapaz, e quando ele não está sempre deixa algum presente…É um senhor muito sério.
- Está se vendo!…Então, de aluguel, nada?…
- Quem, eu!…
Leio e releio e cada vez me desperta uma emoção nova. Que viagem…como numa trip lisérgica, une tempo e imagens. Colore e distorce. Anjos te apontam tridentes, diabinhos te sorriem. A Belle Époque se junta a Woodstock.
Recolhi do ótimo livro de Marc Weingarten, A turma que não escrevia direito (Ed. Record, 2010) um trecho rápido, prometo, sobre o que foi o fenômeno do Novo Jornalismo.
“Num período de sete anos, um grupo de escritores surgiu aparentemente do nada – Tom Wolfe, Jimmy Breslin, Gay Talese, Hunter S. Thompson, Joan Didion, John Sack, Michael Herr – para impor alguma ordem a toda aquela confusão americana, cada um deles a sua própria maneira (alguns nomes antigos, como Truman Capote e Norman Mailer também participaram).
Foi um fluxo sem precedentes de não ficção criativa, o maior movimento literário desde o renascimento da ficção americana nos anos 1920.
Convencidos de que o potencial do jornalismo americano ainda não havia sido completamente explorado, começaram a pensar como romancistas.
Logo que Wolfe codificou essa nova tendência, chamando-a de Novo Jornalismo na antologia de 1973 que coeditou com E.W. Johnson, surgiram críticas para derrubar aquilo, confundindo a teorização de Wolfe com autopromoção.
É um jornalismo que se lê como ficção e que soa como a verdade do fato relatado. Tomando emprestado o título de uma antologia de jornalismo literário de 1997, é a arte do fato”.
Weingarten prossegue:
“Wolfe compara seus contemporâneos jornalistas aos gigantes do século, o 19, Dickens, Balzac e Fielding, escritores que retrataram suas épocas com precisão, numa ficção realista social. A nova ficção do fim dos anos 1960 e dos anos 1970, ao se voltar para dentro, afastando-a do “carnaval desajeitado” da cultura americana contemporânea, deixou um enorme vazio para os Novos Jornalistas preencherem.
Jack London se colocou diretamente no centro de sua crônica sobre a vida da classes baixa em Londres publicado em 1902, O Povo do Abismo (…) O submundo de Londres e sobrenatural; a ideia de abismo é usada como metáfora em todo o livro, a favela é um buraco negro infernal de onde ninguém escapa.
As experiências de George Orwell – que ele acabaria relatando em seu livro de 1931, Na pior em Paris e Londres – duraram um período mais longo que as de Jack London. Três anos”.
“Frank Sinatra está resfriado”
Tom Wolfe e Gay Talese, os dois mais profícuos representantes do novo estilo, vestem-se de matéria semelhante: ternos e camisas cortadas com exclusividade, gravatas bonitas, chapéu, sapatos impecáveis. Wolfe chega a cobrir-se todo de branco, incluindo-se se aí as polainas…Foi assim até sua morte em 2018.
Se fossem para Pelotas em 1913, seriam recebidos como iguais. Dândis, são pelotenses de raiz e não sabem. Talese foi editado no Brasil em 1973. Uma coletânea de matérias que continha Frank Sinatra Está Resfriado, publicada na Esquire, considerado o melhor perfil do século passado. Sinatra não falou com Talese. Mas isto era detalhe…Veja a abertura:
Frank Sinatra, segurando um copo de bourbon numa mão e um cigarro na outra, estava num canto escuro do balcão entre duas loiras atraentes, mas já um tanto passadas, que esperavam ouvir alguma palavra dele. Mas ele não dizia nada; passara boa parte da noite calado; só que agora, naquele clube particular em Beverly Hills, parecia ainda mais distante, fitando, através da fumaça e da meia-luz, um largo salão depois do balcão, onde dezenas de jovens casais se espremiam em volta de pequenas mesas ou dançavam no meio da pista ao som trepidante do folk-rock que vinha do estéreo. As duas loiras sabiam, como também sabiam os quatro amigos de Sinatra que estavam por perto, que não era uma boa ideia forçar uma conversa com ele quando ele mergulhava num silêncio soturno, uma disposição nada rara em Sinatra naquela primeira semana de novembro, um mês antes de seu quinquagésimo aniversário.
Sinatra estava fazendo um filme que agora o aborrecia e não via a hora de terminá -lo; estava cansado de toda a falação da imprensa sobre seu namoro com Mia Farrow, então com vinte anos, que aliás não deu as caras aquela noite; estava furioso com um documentário da rede de televisão CBS sobre a vida dele, que iria ar dentro de duas semana e que, segundo se dizia, invadia a sua privacidade e chegava a especular sobre suas ligações com os chefes da máfia; estava preocupado com sua atuação num especial da NBC intitulado Sinatra – um homem e sua música, no qual ele teria que cantar dezoito canções com uma voz que, naquela ocasião, poucas noites antes do início das gravações, estava debilitada, dolorida e insegura. Sinatra estava doente. Padecia de uma doença tão comum que a maioria das pessoas a considerava banal. Mas quando acontece com Sinatra, ela o mergulha num estado de angústia, de profunda depressão, pânico e até fúria.
Frank Sinatra está resfriado”.
Em 1973, nos EUA, Tom Wolfe estava lançando a Teoria do Novo Jornalismo. Junto, de sua lavra, algo que feriu a fundo o jet set nova-iorquino: Radical Chic, a matéria, implodiu o movimento de socialites, artistas e muito ricos em favor de movimentos políticos extremados. A matéria de Wolfe, conhecido como o Balzac da Park Avenue, foi o Baile da Ilha Fiscal desses rendezvous fora de lugar e propósito.
O longo texto tem por cena principal o apartamento triplex do maestro Leonard Bernstein onde foi promovido um encontro de 60 chiques com lideranças dos Black Panthers. Não terminou bem. Mas, no começo, tudo estava tranquilo. Wolfe descreve assim:
Huuuuuuuummmmmmm. Estes belos pedacinhos de queijo roquefort cobertos com nozes moídas. Muito saborosos. Muito sutis. O jeito como o buquê seco das nozes engatinha pelo sabor intenso do queijo e que é bom, tão sutil. Imagino-o que os Black Panthers comem aqui à guisa de hors-d’oevre. Será que os Panthers gostam de pedacinhos de queijo roquefort cobertos com nozes moídas assim, e de pontas de aspargo molhadas em maionese, e de almôndegas petites ao Coq Hardi, que neste momento são oferecidas a eles em salvas de prata por criadas de libré preto e aventais brancos passados manualmente…O mordomo levará os drinques para eles…Negue se quiser, mas são essas pensamentos métaphysiques que passam pela cabeça nessas noites Radicais Chiques hoje em Nova York. Por exemplo, será que aquele enorme Black Panther ali no corredor, aquele que está apertando a mão de Felicia Bernstein em pessoa, aquele de jaqueta de couro preta, óculos escuros e cabelo afro absolutamente inacreditável em escala Fuzzy-Wuzzy, na verdade – ele, um Black Panther, vai pegar um queijinho roquefort coberto com nozes moídas na bandeja servida pela criada libré e enfiar inteiro na boca, engolindo sem perder nem uma sílaba da perfeita voz Mary Astor de Felícia…”
Seguiram muitas páginas que destruiriam Bernstein, interna e externamente. O maestro, judeu sionista, não sabia que os Black Panthers apoiavam a OLP, entre outras pequenas e grandes gafes.
Wolfe foi penetra na festa. Mas se sentiu à vontade, ao contrário do que dizia dele o concorrente e mui amigo, Hunter S. Thompson: “O problema de Wolfe é que ele é rabugento demais para participar de suas histórias. As pessoas com as quais ele se sente confortáveis são chatas como bosta de cachorro seca, e as que parecem fasciná-lo como escritor são tão estranhas que o deixam nervoso”.
Estranho era Thompson Quem já viu um dos filmes calcados em suas aventuras, como Medo e Delírio em Las Vegas ou Diários de um Jornalista Bêbado, não acredita que ele conseguiria escrever alguma coisa inteligível. Em 2005, matou-se com um tiro de espingarda da cabeça.
Sem censura, os EUA perderam a guerra…
A Guerra do Vietnã pautou aqueles anos. Dividiu um país e gerações. O público que estava acostumado com o noticiário altamente censurado dos conflitos, viveu uma experiência inédita: no Vietnã não houve censura. A guerra entrou na casa das pessoas como realmente era. E assustou bastante. Depois, tudo voltou ao normal. O noticiário jamais deixou de ser controlado. Os EUA perderam a única guerra onde houve total liberdade de imprensa.
Entre os que se destacaram na cobertura está Michael Herr. É impossível não ler os seus “despachos” e não transportá-los para os filmes (os melhores) que foram feitos sobre o tema. Ele escrevia assim:
“Às vezes o helicóptero em que a gente ia transpunha uma colina e todo o terreno à frente estava até a Coluna seguinte estava calcinada, esburacados e ainda fumegando, uma coisa entre o peito e o estômago da gente revirava. Leve fumaça cinzenta onde queimavam os campos de arroz em torno de uma zona livre de ataque, fumaça branca brilhante de fósforo (“Willy-Peter/Make You a buh-liever”), profunda fumaça negra de napalm ela sugaria o ar dos pulmões. Uma vez passamos por uma pequena aldeia que sofrera um ataque aéreo recente e me vieram à cabeça os versos de uma música de Wingy Manone que eu ouvira quando era pequeno, Stop the war, Theresa cats are killing themselves. Depois baixamos, pairamos, pousamos na fumaça da Zona de Pouso, dezenas de crianças correram de suas cabanas para o centro de nosso pouso, o piloto rindo e dizendo:
– Vietnã, cara, a gente bombardeia e dá comida, bombardeia e dá comida.
“Oh, meu Deus – atingimos uma menininha”. Assim a Esquire intitulou uma matéria, de John Sacks, outro novíssimo repórter. Nunca houve antes cobertura de guerra com este enfoque.
Agora, acompanhamos ao longe o trabalho sujo dos drones.
Herr descrevia assim o seu trabalho: “o jornalismo já não podia revelar a guerra mais do que o poder de fogo convencional conseguirá vencer; tudo o que conseguia fazer era observar o mais profundo acontecimento da década americana e transformá-lo num pudim de comunicações, pegando a história mais óbvia e inegável e tornando-a uma história secreta. E os melhores correspondentes sabiam até mais que isso”.
Muito citado, com a palavra o ilustre Honoré de Balzac, para falar sobre a categoria profissional que o tem como referência.
“Para o jornalista, tudo o que é provável é verdadeiro”.
Como assim, monsieur, fostes tão elogiado pelos coleguinhas aqui destacados…
“A imprensa, como uma mulher, é admirável, e sublime quando conta uma mentira. Não o deixa em paz até tê-lo forçado a acreditar nela, e emprega as maiores qualidades nessa luta em que o público, tão tolo quanto um marido, sucumbe sempre”.
E o francês não refresca mesmo: “Se a imprensa não existisse, seria preciso não inventá-la”.
As citações acima estão no livrinho Os Jornalistas, que saiu de sua pena ferina.
Joan Didion, elencada, não apareceu em cena. Ela continua atuante. Há um excelente documentário sobre a sua vida no Netflix.
Jimmy Breslin entrou nos anos 1980 defendendo os negros e os pobres. Tinha como adversário um notório empresário racista: Donald Trump. Sinal de que, ao morrer, em 2017, o inimigo ainda era o mesmo, como mostra o excelente documentário da HBO, Breslin e Hamill, as Vozes de Nova York.
Cem anos depois, se Simões refizesse o seu roteiro pelos mesmos lugares por onde passou para elaborar os Inquéritos em Contraste, ainda encontraria cortiços e negros pobres se virando precariamente.
Pode mudar um ou outro personagem, mas os cenários ainda são os mesmos e vivemos como nossos bisavós.