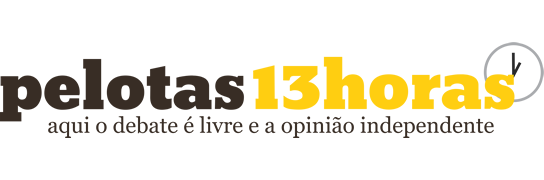Memórias de um “jornalista político” (1)
Lourenço Cazarré*
Só recentemente, durante a carnificina que foi a última eleição presidencial, me dei conta de que durante mais de trinta anos fui aquilo que talvez se possa chamar – com muita cautela e desconfiança – de “jornalista político”.
Vendo coleguinhas bastante rodados apoiando um dos dois candidatos principais – que trocavam pesadíssimas acusações morais -, eu me perguntei como nesse tempo todo consegui me manter afastado das paixões políticas.
A explicação parece simples: mais que jornalista, sempre me considerei um literato, com tudo de ruim ou ridículo que esta palavrinha possa conter.
Acredito que foi o longo exercício deste artesanato chamado literatura (com muita, muita leitura!) que me deixou cabreiro e reticente em relação a tudo que diz respeito a ideologias e partidos. Especialmente porque, como sabem os mais espertos, abaixo do Equador as ideologias e partidos facilmente se transformam em meros instrumentos (picaretas, pés-de-cabra) de pilhagem.
Bem, o certo é que uma das primeiras lições que se apreende ao lutar com as letrinhas é fugir do chavão, do discurso, dos slogans fofinhos, das frases-feitas e das ideias simplórias, em suma, de tudo aquilo que constitui o pântano verbal no qual os chamados homens públicos – de direita ou esquerda, tanto faz – costumam afogar seus desinformados adoradores.
Já o exercício da escritura – com seus joguinhos e brincadeiras com as palavras, com as frases de duplo sentido, a ironia e, principalmente, a grossa zombaria – pode (quem sabe?) nos aproximar mais facilmente dessas coisas nunca bem definidas que chamamos verdade ou beleza.
Os entendidos no riscado dizem que a beleza e a verdade que se escondem na nossa língua – em qualquer língua, na verdade – só podem de fato ser arrancadas dali com instrumentos mais delicados, como criatividade e a invenção.
Filho ingrato
Por que coloquei entre aspas a expressão “jornalista político”?
Primeiro porque nunca me julguei um periodista apaixonado. Não acho que o jornalismo seja “uma cachaça”, como dizem. Para mim, filho ingrato, é uma profissão como muitas outras, com seus pecadilhos e virtudes.
Sintetizando: para mim, modestíssimo e esforçado redator, o jornalismo significou a possibilidade de garantir o sustento executando apenas aquelas duas operações para as quais não sou totalmente inepto: ler e escrever.
Tenho ainda menos certeza de usar o qualificativo “político”, porque, a rigor, sempre tentei perder o mínimo de tempo lendo o noticiário policial. Policial, êpa! Quis dizer político. A verdade é que atravessei décadas tendo que ler vários jornais para me manter bem informado sobre a lavoura da qual tirava meu feijão: discursos, minha gente, incontáveis discursos apócrifos!
O fato é que nunca me senti verdadeiramente atraído pelo complicado exercício que é decifrar, cotidianamente, a escorregadia arte da enrolação a qual se dedicam os políticos. Vale aqui a transcrição de um trecho de um livro meu, intitulado A longa migração do temível tubarão branco, no qual o protagonista – o jornalista Dante Verga – fala de sua relação com a leitura de jornais: “Onde li isso? Leio tanta merda. Imagine o seguinte: eu leio jornais há trinta anos. Nos domingos, chega a ler durante quatro, cinco horas. Mas, em geral, leio duas horas por dia. Bem, arredondemos: uma média de quinze horas por semana. Sessenta horas por semana. Setecentos e vinte horas por mês. Fiquemos com este número: ao longo de minha vida adulta – trinta anos – li jornais durante vinte e uma mil horas. Crimes, tragédias, bizarrices, bobagens e fofocas. É um bom bocado de lixo”.
Sempre muito pior do que conseguimos imaginar
Durante anos o jornalista Artur Pereira, ex-aluno do CAVG, natural do distrito de Ayrosa Galvão, na Grande Arroio Grande, praticou o jornalismo político em Brasília. Nos anos mais cinzentos da ditadura, ele circulava pelos gabinetes da Câmara e do Senado tentando descobrir – com os colegas de outros jornais – qual era a armação daquele dia. Pormenor: os jornalistas credenciados pelos grandes jornais no Congresso formavam um grupo fechado que era chamado de “pool”. Informalmente, muitas vezes, eles trocavam as informações delicadas que obtinham porque um furo dado por um só deles poderia acarretar a demissão de um colega. Ou pior: atrair a vigilância e (e consequente perseguição) do regime para o repórter furão (aliás, apelido do Artur: Furão.).
Certa noite, quando era redator do Jornal de Brasília e o Artur era repórter de Congresso do mesmo jornal, eu perguntei a ele com que taxa de sucesso eles conseguiam descobrir a verdadeira jogada do dia, aquela que se escondia por trás do palavrório escorregadio dos políticos que eles entrevistavam. – Todo dia, a gente levanta uma tese, a pior possível, e vamos atrás de informações que a confirmem – disse ele. – Mas a nossa tese nunca se confirma porque eles sempre estão fazendo algo muito pior do que nós conseguimos imaginar.

Pós-graduação barriga verde
Formado em Jornalismo pela Universidade Católica em 1975, deixei Pelotas em junho de 1976, aos 22 anos, em direção a Santa Catarina. Fui até lá para assumir uma vaga de repórter na sucursal florianopolitana da Companha Caldas Júnior, empresa gaúcha que editava os jornais Folha da Manhã, Folha da Tarde e Correio do Povo. O meu chefe da Caldas em Porto Alegre, ao me convidar para aquele posto, advertiu:
– Mas o salário não dá pra viver. – Tanto faz – respondi. – Já não dá em Pelotas. Mas em Floripa, pelo menos, tem praia de mar. A verdade é que, antes, eu já havia tentado uma transferência para Brasília, mas minhas asinhas foram cortadas por aquele mesmo chefe, que teria dito: – Esse guri é um porra-louca.
Permaneci em Santa Catarina por um ano e cinco meses. Lá, paralelamente ao meu trabalho na Caldas, passei a colaborar – nas horas vagas (que eram poucas) e nos finais de semana – com o jornal O Estado, então o principal daquele Estado.
Durante a semana, fazia entrevistas, pesquisava e escrevia reportagens especiais que eram editadas na recentemente criada edição de segunda-feira de O Estado.
Nos finais de semana, dava plantão na editoria de Esporte (comandada pelo meu amigo Mário Medaglia) fazendo relatos sobre o “clima” dos jogos realizados na capital e outras mixarias atléticas. Mas também visitava delegacias em busca de notas policiais.
Trabalhava de segunda a segunda, sempre carregando uma bolsa de couro, quadradona, cafonérrima, na qual levava um livro para folhear nas salas de espera dos entrevistados, já que quase todos me serviam chá-de-cadeira. Considero esse meu período barriga verde uma espécie de pós-graduação, um mestrado, digamos, em reportagem.
O encardido dedão do pé esquerdo
Vamos à minha primeira incursão pela Política. Era o auge do verão e eu estava saindo para fazer uma reportagem numa praia quando me mandaram ir até a prefeitura, onde o jovem burgomestre de 29 anos concederia uma entrevista coletiva. Fui. Chegando atrasado, coloquei-me discretamente por trás do prefeito, que não me viu entrar na sala. E comecei a fazer minhas anotações em umas laudas dobradas (nunca usei caderninhos ou cadernetas). De repente, num gesto mais brusco, ao estender um braço para trás, o administrador do município acabou por segurar o meu encardido dedão do pé esquerdo. O fato foi percebido pelos coleguinhas, que ensaiaram uns risinhos debochados, mas, sem se dar por achado, Esperidião Amin livrou-se do meu hálux imundo e continuou impávido a sua fala.
Por que o dedão?
Simplesmente porque eu – que naquela hora deveria estar em uma praia arenosa – estava usando uma banal havaiana. À época, Esperidião ainda tinha uma barba preta de profeta, mas já era o mesmo político sagaz, bem-humorado e brincalhão que hoje vemos na televisão.

A roça asfaltada
Certo dia, quando já ocupava (informalmente) em O Estado o cargo de subeditor de Polícia, ouvi de um colega catarinense a seguinte informação: – Nunca vão te dar a editoria de Polícia porque já há gaúchos demais nas chefias do jornal.
Aproveitando a bela dica, tratei de retirar meu time daquela empresa desalmada que não reconhecia o meu nascente talento e o fato de eu trabalhar mais que um remador de galera. Sem desfrutar os finais de semana nas praias, que eu apenas vislumbrava dos ônibus que me levavam de um entrevistado a outro, de que me adiantava viver na Ilha da Magia?
Se não podia aproveitar as belezas daquela então bucólica cidade de Floriano, chegara o momento de, como se diz em pelotês, me arrancar dali.
Detalhe: na verdade, desde que me formara, eu queria trabalhar em Brasília. Por quê? Por um motivo muito simples: as três melhores cidades para se desenvolver uma carreira na imprensa eram São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Nelas estavam os empregos melhor remunerados. E eu queria ter uma renda razoável porque cultivava uma tara dispendiosa: gostava de ler. E os livros, como em qualquer país do mundo, sempre custam caro para os que ganham pouco.
Como nunca me interessei por São Paulo (jamais quis viver em uma cidade com mais de dez milhões de habitantes) e não queria ir para o Rio de Janeiro (que já estava sendo tomado pelo bangue-bangue), me restava Brasília. O Plano Piloto (ou seja, a própria cidade de Brasília) tinha no final dos 1970 e tem até hoje a mesma população de Pelotas.
Maldade: a melhor definição da capital brasileira que ouvi até hoje foi a de Raul de Xangô, mago do candomblé, que me disse: – Brasília é uma roça asfaltada.
Ameaçado de demissão ao ser contratado
Assim, em outubro de 1977 cheguei a cidade de JK para uma incursão rápida que tinha como meta descolar um emprego. Aqui já viviam dois amigos de Pelotas: João Garcia, o Jotagê, conhecido radialista, e a Magra Célia Scherdien, minha colega de faculdade.
Lembro que certa noite jantamos e conversamos num restaurante chamado Líbano, na 109 Sul. Naquela ocasião, o generoso Jotagê ofereceu-me hospedagem em seu apartamento do Guará (onde morava com a esposa Nélia), até que Luísa e eu tivéssemos renda comprovada para assumir um aluguel.
Não sei como acabei dando com as costelas no Jornal de Brasília, onde consegui descolar uma vaga de redator. Fui contratado por um grandalhão agitado – o mineiro Valdimir Diniz – que era o chefe de reportagem. Quis mostrar a ele minhas matérias assinadas da Caldas e de O Estado.
– Não precisa – disse ele na tampa. – Se não fores competente, eu te demito.
Já que estamos, em tese, falando de política, devo dizer que o pano de fundo dessa minha primeira viagem a Brasília foi a surpreendente demissão, em 12 de outubro de 1977, do ministro do Exército, Silvio Frota, afastado pelo então presidente da República, Ernesto Geisel.
O sobrevoo do passaralho
Assim, em 9 ou dez de novembro de 1977, Luísa e eu desembarcamos na jovem capital (criada dezessete anos antes), sendo que eu já dispunha de duas fontes de renda: o Jornal de Brasília e o cargo de correspondente do jornal O Estado na capital da República, que eu havia conseguido arrancar dos meus chefes em Santa Catarina.
Minha primeira tarefa no Jornal de Brasília: redator da editoria de Economia. Horário: das 5 da tarde até às dez, embora raramente saíssemos antes da meia-noite. Tarefa: fundir telegramas de diversas fontes sobre um mesmo tema e reler com atenção – se possível, extraindo os atentados contra a Língua Mãe – os textos dos nossos quatro ou cinco repórteres.
Eu gostava muito do que fazia. Durante o dia, passava pelo Congresso e escutava um deputado ou senador catarinense sobre algum tema em pauta. As minhas reportagens para Santa Catarina eu as enviava pelo telex da rádio onde trabalhava meu hospedeiro, Jotagê, que nos finais de semana nos entretinha (Nélia, Luísa e eu) contando os causos mais hilariantes e bizarros da sua Arroio Grande.
Pouco depois da minha admissão, a redação do Jornal de Brasília foi sobrevoada por um passaralho (tente descobrir que ave é essa, você que não é jornalista). Na editoria de Política, o editor foi violentamente decapitado. Logo, todos os redatores pediram as contas em solidariedade a ele.
Fui então arrastado para aquela editoria, onde ficaria por cinco anos. Foi assim que se deu efetivamente a minha entrada nesse jiu-jitsu sobre o lamaçal que é a política brasileira.
**Jornalista e escritor