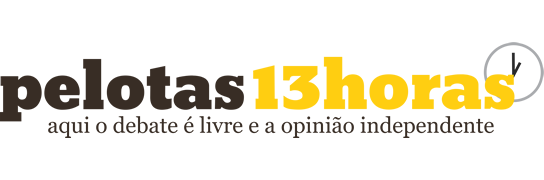A MISTERIOSA MORTE DE MIGUELA DE ALCAZAR
Lourenço Cazarré e Pedro Almeida Vieira*
44. Sobre os hábitos alimentares dos brasileiros
Minha empolgada historieta sobre a gênese do vinho foi interrompida pela chegada dos escritores. Às sete horas em ponto, em silêncio, formando um bloco, regressaram à sala de reuniões. Ao ver que não faltava nenhum dos seis, senti-me aliviado.
Depois que todos assumiram seus lugares à mesa, Batota, com um gesto firme de cabeça, ordenou-me que sentasse. Por sorte, minha cadeira estava ao lado do carrinho de bebidas. Espichei um rápido olhar sedento às garrafas. Não registrei ali a falta de nenhum dos principais destilados. Havia desde vomitórios, como vermute, até o néctar dos biriteiros, que se chama uísque.
– Façamos brindes aos deuses da literatura! – berrou Batota.
Verti uísque num copo. Controlei-me para não encher até a borda. Recusei, com um esgar de asco, os cubos de gelo que o garçom me ofereceu.
– Viva Gógol! – gritou Fedorova.
– Salve Shakespeare! – silvou Águeda Christine.
– Glória a Mérimée! – fumaceou Sim Et Non.
– Vida eterna a Lao Tsé! – prosseguiu Foo.
– Uísque farto para o cachaceiro do Poe! – errou Dax.
– E vinho para Cervantes! – acrescentou Bugres.
A cada saudação, eu esvaziava um copo, com um só gole.
Quando chegou a ocasião que julguei propícia para o meu pronunciamento, berrei:
– Que não falte um boteco no céu para Graciliano Ramos!
– Para sempre viva Camões! – ecoou Batota. – E que Fernando Pessoa esteja ao seu lado!
– Felizmente, os deuses da literatura são numerosos – disse Fedorova, segurando pelo gargalo uma garrafa de vodca. – Viva Tchecov!
Só então notei que todos ali, como eu, eram grandes apreciadores de substâncias líquidas. Embora idosos, todos eles vertiam generosas doses nos respectivos copos e imediatamente os esvaziavam.
O derradeiro viva foi dado por Sim Et Non:
– Que Deus acolha Miguela de Alcazar na sua bem guarnecida adega!
Às oito horas em ponto, como anunciara Batota, transportadas em carrinhos, chegaram as muitas travessas fumegantes. O português levantou-se para ajudar o garçom a servir.
Mesmo bastante zonzo, lembrei que precisava forrar o bucho. Bem alimentado, eu poderia lutar melhor contra o carrinho de bebidas. Saco vazio não para em pé, dizia meu pai.
Confesso que fiquei espantado com a capacidade de absorção de líquidos e de sólidos por parte daquela velharia. Sou incapaz de dizer quem mais mastigou ou engoliu. Até escritores milionários saem do sério quando a boca é livre e a bebida é de graça.
Lá pelas tantas, os comes e os bebes desataram todas as línguas. Passou a reinar naquela sala um clima de total descontração. Bolinhas de miolo de pão, embebidas em molho, voavam de um lado a outro. Azeitonas e ervilhas eram os outros projéteis utilizados. Senti-me de volta à hora da merenda no grupo escolar do Alegrete onde estudei. Enfiei um aspargo pelo decote de Fedorova. Ela adorou.
Por uma longa hora estendeu-se aquela comilança.
Aqui, neste exato trecho do livro, permitam-me breve digressão a respeito dos hábitos alimentares dos brasileiros.
O Brasil é o país onde mais se come no mundo. Dizem que na França come-se a melhor comida. Pode até ser, mas lá não se come muito. Nós, brasileiros, desprezamos molhos sofisticados, condimentos raros e porções delicadas. Comemos no atacado. Quer carne? Pois muito bem, aqui vai um quilo de picanha gorda. Bom proveito, seu animal, coma até morrer! Quer feijoada? Pois engula três pratos cheios até a borda e depois procure ajuda veterinária, seu cavalo!
Eu poderia aqui dizer também que em certas áreas do Brasil come-se mal. E pouco. É um calango hoje, um ratinho daqui a uma semana. E mandioca, quando há, pouca. Poderia até me estender sobre isso, mas não o faço porque sei que leitores de livros policiais, em geral, odeiam ler sobre fome ou miséria.
45. Grupo orquestrado de assassinos cruéis
Voltemos ao regabofe.
Entre gargalhadas e arrotos, comemos. Muito.
Só paramos de mastigar quando a porta do salão se abriu em par e deu passagem à figura miúda e bem armada de Jerônimo Aroeira.
– Rango pra mais um! – gritou o titular da Primeira Delegacia de Polícia de Brasília e se acomodou em uma cadeira que colocou ao lado da do Batota.
O clima descontraído dissipou-se. Consigo, Aroeira trouxera da rua uma nuvem escuríssima, que estacionou sobre nós. Perdemos a alegria e o restinho de apetite. Com exceção do Batota, que continuava a aterrar, com grandes garfadas de bacalhau, o seu mui dilatado ventre.
– Bacalhoada! – ordenou o delegado, depois de lançar um olhar famélico ao prato do português.
Veio a bacalhoada num prato tão monumental que alimentaria, facilmente, um time de rúgbi. Aroeira o derrotou em pouco tempo. O delegado era daquele tipo de gente que considera o ato de mastigar uma insensatez que só nos leva ao desgaste desnecessário dos dentes. Engolia garfada em cima de garfada. Parecia foguista de trem antigo alimentando a caldeira com pás de carvão.
Enquanto comia, Aroeira matutava. Via-se, pela vibração das veias das têmporas, o esforço dos neurônios do policial. Estava mergulhado em elucubrações profundas.
De repente, meu coração brasileiro se encheu de esperança: e se Jerônimo Aroeira, aquele modesto delegado tupinambá, sobrepujasse em argúcia os criadores dos mais famosos tiras fictícios do mundo?
Foi um impulso ingênuo, reconheço hoje, mas a minha inteligência estava bastante comprometida pela ingestão de licores proibidos para menores de idade.
Depois de atirar a última pá de bacalhau para dentro da goela, Aroeira comandou:
– Que o garçom se retire!
O pobre trabalhador míope, que se encontrava completamente embriagado, sumiu sem fazer nenhum ruído. Eu havia percebido que ele bebia discretamente toda vez que se voltava de costas para nós a fim de servir mais uma dose. Com gestos rápidos, enchia um pequeno copo com uísque, que a seguir sugava por um canudo. Inicialmente, tolo que sou, acreditei que ele estava provando as bebidas para ver se alguma delas estava envenenada. Assim, gastei um bom tempo até perceber que o garçom catacego era só mais um pinguço em uma sala cheia de cachaceiros.
Quando se desfez o barulho do elevador, o que significava que o garçom havia chegado ao térreo, Aroeira abriu o paletó. Com um gesto muito lento, teatral, puxou do bolso um envelope lacrado e, com voz solene, anunciou:
– Senhoras e senhoras, passo agora a ler o laudo da autópsia realizada, pelo doutor Abelardo Nepomuceno Crescente, no corpo da senhora Miguela de Alcazar…
Fez uma breve pausa e completou:
– Que foi brutalmente assassinada.
O silêncio adensou-se em torno de nós.
Por cima da mesa, entre restos de comida, manchas de molho, talheres sujos e copos embaçados, rastejavam, ariscos, os assustados olhares dos escritores.
– Sim, contrariando a abalizada opinião de um policial experimentado como eu, a escritora espanhola foi morta. Aliás, ela foi morta mais de uma vez, se é que se pode dizer isso. Foi assassinada por um profissional do crime, impiedoso e sádico. Aliás, eu me sinto mais inclinado a considerar que ela foi morta por um grupo orquestrado de assassinos cruéis e implacáveis.
Neste ponto, de volta ao silêncio, o olhar do delegado passou a circundar a mesa. Movia-se lentamente de um rosto a outro. Por um demorado minuto, digamos, aquele olhar arguto fixava-se em cada face. E depois passava a outra.
Acossados por aqueles cintilantes olhos inquisidores, os escritores baixavam a vista, constrangidos, já meio culpados. Com a exceção, é claro, do poeta argentino, que parecia olhar diretamente para as lâmpadas do lustre.
Concluída a observação de todos os rostos, o delegado anunciou:
– Passo agora a ler o laudo!
46. A satisfação de um meganha lendo um belo laudo de autópsia
Jerônimo Aroeira limpou a garganta e lascou:
– Na análise do corpo da senhorita Miguela de Alcazar y Casas de Bourbon, espanhola, 96 anos, solteira, foi identificada a presença de três tipos de veneno. Nas vísceras, em meio a restos de uma refeição, composta de arroz, feijão, carne e batata frita, detectamos a presença de arsênico em alta concentração. No sistema nervoso central, encontramos neurotoxina de serpente, do tipo viperidae, que pode ter sido injetada no corpo da vítima a partir de uma minúscula perfuração que localizamos no pescoço. Por fim, encontramos também traços significativos de estricnina, notadamente nos lábios e na língua da vítima.
O olhar do delegado, desejoso de constatar a surpresa dos escritores diante daquela bela peça de oratória necrológica, correu ligeiro ao redor da mesa. Correu em vão, porque, até mais do antes, os olhares dos escritores estavam cravados na toalha suja.
Do outro lado da mesa, mas exatamente na minha frente, Batota ergueu seu polegar direito, que era grosso como tronco de sequoia. Com aquele gesto, ele queria me informar que estava favoravelmente impressionado com o trabalho do legista.
Após um fundo suspiro, o policial retomou a leitura:
– Quando analisávamos a caixa craniana da vítima, observamos um ligeiro afundamento, na nuca, resultante de golpe. Pelo exame da região occipital, verificamos que se tratava de ferimento recentíssimo. Tal lesão foi causada por objeto pesado, certamente arredondado. Embora não tenhamos podido avaliar, no pouco tempo que nos foi concedido, a total extensão do referido dano, se mortal ou não, podemos assegurar que ele foi considerável, tendo em vista a fragilidade dos ossos da vítima pela sua idade muito adiantada.
O pasmo era geral. Ninguém ali, nem os escritores, nem Batota, nem eu, esperava um estudo tão detalhado e tão bem escrito.
– Estou abismado com esta peça criminalística – comentou Batota. – O mundo todo, sejamos sinceros, nada espera de um brasileiro a não ser a mais completa e irrestrita incompetência.
Com o braço direito dobrado, bati com força no bíceps. Ou seja, respondi-lhe com uma banana.
O delegado prosseguiu:
– A análise dos pulmões mostrou danos recentes e extensos: paredes violentamente corroídas e alvéolos estranhamente rígidos. Na parte inferior do pulmão esquerdo, havia importante quantidade de sangue. Concluímos desses indícios, que a vítima evidentemente inalou algum tipo de gás letal. Esse gás, inequivocamente, enrijeceu-lhe os alvéolos, que ficaram como que petrificados. Logramos recolher uma pequena amostra do elemento químico que causou os severos danos às paredes do órgão respiratório. Submetemo-lo a um exame, mas não conseguimos identificá-lo com precisão. Acreditamos, porém, que se trata de um novo composto mortífero, sintetizado recentemente em laboratórios do Leste europeu, o russorum venenorum mortalis, do qual tivemos notícia através de publicações acadêmicas.
Havia soberba, e muita, na cara feiosa de Aroeira enquanto lia aquele belíssimo documento oficial.
Ora, leitura tão arrasadora fez evaporar parcela considerável do álcool que eu havia ingerido. Que, convenhamos, não fora pouco. Cada palavra pronunciada pelo delegado soprava para mais longe a nuvem que toldava minha cachola. A cada frase dele, eu ficava mais esperto.
Por fim, veio o arremate:
– Concluindo, ao examinarmos o coração, detectamos também que a vítima sofreu um enfarto agudo do miocárdio. Não se pôde constatar, com precisão, se esse evento determinou o óbito ou não. Experiências científicas recentes comprovaram que, em pessoas de idade avançada, tais infartos são menos devastadores. Em função disso, julgamos que, no caso em estudo, são significativas as possibilidades de o ataque cardíaco ter apenas contribuído para a morte. Dito de outra forma: só se juntando aos demais prejuízos sofridos pela vítima, quais sejam envenenamento múltiplo e pancada, a síncope cardíaca pode ter acarretado o falecimento. Fazemos, no entanto, uma ressalva. Em se tratando de uma morte tão intrincada como a que tivemos sob as lentes do nosso microscópio, não se pode afastar a hipótese de estarmos diante de um enfarte malignamente induzido.
Aroeira dobrou o laudo com gestos vagarosos e majestáticos e o guardou no bolso interno do casaco.
47. A vacilante habilidade dos cachaceiros
Depois daquela leitura, as engrenagens do meu cérebro voltaram a se movimentar. Em baixa velocidade, devo admitir. Mas o certo é comecei a perceber a ligação entre certas frases ditas pelo delegado e outras frases que eu escutara ao longo daquela tarde.
Jerônimo Aroeira abriu uma garrafa de vinho, levou-a aos beiços e sugou, num só gole demorado, tudo o que nela havia. E, a seguir, voltou a falar em um tom de voz ainda mais grave:
– Em uma já longa carreira policial, nunca tive caso semelhante em minhas mãos. Morte em cima de morte. O crime mais parecido a este de que me lembro foi praticado, no Rio de Janeiro, por um louco que tinha a mania de se dizer poeta. Depois de matar a pauladas um companheiro de hospício, também versejador, o sujeito resolveu degolá-lo para não deixar aberta a possibilidade de uma ressurreição. Mas como a cabeça, já autônoma, continuasse a declamar dodecassílabos, o poeta alucinado decidiu jogá-la ao mar para que se afogasse. Por que tudo isso? Porque o poeta assassinado tinha a mania de dizer que pertencia à Academia Brasileira de Letras e que, portanto, era imortal.
Era visível e palpável o nervosismo dos escritores. Perguntei-me: estarão tensos apenas porque não esperavam laudo tão acurado ou terão algum outro motivo, mais profundo, para ficarem inquietos?
Implacável, continuou o delegado:
– Hoje, aqui, tivemos uma vítima à qual foram impostas muitas mortes: triplo envenenamento, inalação de gás letal, pancada e, para culminar, um belo enfarte. Seguramente provocado. Senhoras e senhores, eu nunca ouvi falar em crime semelhante. É crueldade demais!
O policial voltou-se para o gerente do hotel:
– Senhor Batota, vamos ter uma longa noite pela frente. Assim, ordene ao garçom que traga novas garrafas para completar a lotação do carrinho! Como as pessoas aqui presentes terão de falar bastante, quero uma boa provisão de líquidos para que todos refresquem permanentemente a garganta.
O português se levantou e, um tanto vacilante, foi até o telefone.
Enquanto em voz baixa o Batota se entendia com o garçom, o delegado Aroeira levantou-se e, com as mãos às costas, calado, pensativo, passou a caminhar ao redor da mesa.
Pouco depois, surgiu o garçom equilibrando precariamente uma imensa bandeja na qual luziam incontáveis garrafas. O pobre homem estava ainda mais bêbado. Temi que ele derrubasse alguma garrafa ao passá-la para o carinho, mas não ocorreu nenhum acidente. Ele era dotado da vacilante habilidade dos cachaceiros escolados. Detinha-se sempre a um milímetro do desastre.
Sentado na pontinha da cadeira, muito tenso, assisti à transferência das garrafas. Se aquele garçom quebrasse uma só garrafa, eu lhe arrebentaria os óculos com um murro. Tomo como ofensa pessoal qualquer dano a uma garrafa, seja de que bebida for.
Conheço muito garçons que trabalham embriagados. Afinal, não é tarefa das mais complicadas trazer pratos cheios e levá-los embora depois, vazios. E eles sempre podem tomar de graça uns restinhos de vinho caro porque as mulheres, para se mostrarem sofisticadas, costumam deixar um golinho no fundo da taça.
Pois bem, abastecido o carrinho, o garçom tentou achar o caminho de volta ao elevador, mas, seu caminhar incerto e trêmulo o levou diretamente a uma janela aberta. Pensei que escolheria a forma mais rápida de descer ao térreo: voando. Porém, um tropeção em uma cadeira o desviou da morte o lançou com precisão na porta escancarada do ascensor, que o engoliu.
Espichei uns olhos babosos para o carrinho de bebida. Já estava praticamente sóbrio de novo, pronto para mais uma saturnal. Bebida de graça é uma coisa muito linda, bebida boa de graça é algo maravilhoso.
– Sirvam-se, senhores – comandou o delegado.
Voei para o carrinho e, com gestos rápidos e precisos, enchi um copo com Joãozinho Caminhador de quinze anos, rótulo azul. Nunca, jamais coloco cubos de gelo no meu copo. Segundo um amigo meu, engenheiro químico, cubo de gelo só serve para ocupar espaço no copo.
Enquanto os escritores serviam-se, Aroeira, mamando no gargalo de uma garrafa de gim, os observava com atenção. Eu também estava alerta porque, como o delegado, ali me encontrava a serviço.
Bugres e Fedorova pegaram pelo pescoço garrafas já destampadas. Ele foi de vinho; ela, de cachaça. Pragmáticos, evitavam desse modo o trabalho de encher o copo a todo instante. Bugres o mais agitado da mesa, falava em voz alta e ria nervosamente. Seu comportamento atraiu a atenção do delegado, que se dirigiu a ele em tom casual:
– Senhor Bugres, o que tem o senhor, um homem cultíssimo, a nos dizer sobre a morte, ou, melhor, sobre as múltiplas mortes de Miguela de Alcazar?
O escritor argentino só respondeu depois de tomar um quase infindável gole de vinho:
– Pouca coisa. Miguela era uma espanhola e, como sabemos, os espanhóis sofrem de um avassalador sentimento de inferioridade diante de nós, argentinos. Não suportam que sejamos mais ricos, elegantes e inteligentes do que eles. Mas a pobre Miguela de Alcazar me odiava também porque há décadas venho sendo lembrado para receber o Nobel, enquanto o nome dela jamais foi mencionado.
Batota intrometeu-se:
– Mas, ao final das contas, o senhor também nunca recebeu o Nobel!
– Felizmente. Se eu o tivesse recebido, provavelmente Miguela de Alcazar teria cravado um punhal no meu coração. Não suportaria essa derradeira humilhação, embora justa.
– Não estou interessado na disputa de vaidade entre cucarachas – rosnou Aroeira. – Tendo em vista a autópsia, meus homens neste momento estão fazendo uma varredura no apartamento 1313. Certamente, encontrarão traços de sua passagem por lá, senhor Bugres. Portanto, poupe-me a trabalheira e me diga: por que motivo o senhor matou a velha?
*Jornalista e escritor.