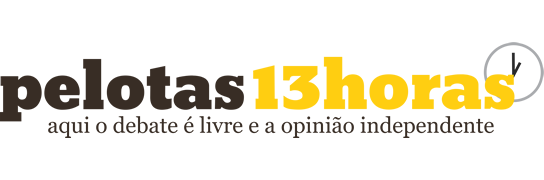INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
A misteriosa morte de Miguela de Alcazar chega ao Pelotas 13 h
Lourenço Cazarré*
A primeira publicação de A misteriosa morte de Miguela de Alcazar ocorreu em meados de 1991. Naquela época, um amigo de peladas de futebol de salão do Clube da Imprensa, Vicente Sá, poeta e jornalista da área de Cultura, me convidou para escrever um folhetim para o jornal BSB Brasília, um semanário de distribuição gratuita no Distrito Federal.
Acho que já tinha uns capítulos escritos, mas não tenho certeza disso. O certo é que me comprometi a partejar um capítulo de umas quinhentas palavras por semana. E foi o que fiz, metralhando de madrugada num computador pré-histórico que me custou uma boa grana.
O primeiro capítulo saiu em 28 de abril de 1991. Foram 21 semanas, sem pular uma só. No dia 15 de setembro apareceu o derradeiro. Tenho todos os fascículos nos meus arquivos implacáveis. Para mostrar aos inimigos, se a isso for desafiado.
Passaram-se uns dez anos e um dia falei a um amigo, Jorge Schelb, sobre esse folhetim. Ele se interessou, quis ler. Passei-lhe então uma cópia. Ele leu, ou mentiu para mim que leu, e me incentivou a recuperar aquela história, dando a ela mais gordura, mais espaço.
Foi assim que, em 2001, o livro começou a crescer. Trabalhei nele por alguns anos, espichando, retocando. Mas sempre me divertindo muito porque A Misteriosa morte de Miguela de Alcazar é, mais que tudo, um livro de humor. Ou dito de outra forma: é uma sátira aos romances policiais.
Confissão de leitor: durante décadas consumi literatura policialesca. Comecei com o belga Georges Simenon, em 1972, quando comprei, numa promoção da Livraria Mundial, dez volumes protagonizados pelo detetive Jules Maigret. Depois, li os americanos Raymond Chandler e Dashiel Hammet.
Voltando ao Miguela. Em 2009, com o apoio do Fundo de Cultura do Distrito Federal, o livro foi publicado pela editora Bertrand Brasil. Pelo que sei, não teve lá uma vendagem muito boa. Talvez até se possa dizer que foi muito ruim. Mas a verdade é que ele teve uma boa recepção por parte da crítica. Guardo cópias dessas resenhas positivas. Para mostrar aos inimigos, se isso eles me exigirem.
Pois bem, rolaram mais alguns anos e lá por 2017 conheci em Lisboa um escrito português, Pedro Almeida Vieira. Um dos principais romancistas do gênero histórico daquele país, no Século XXI, ele é autor de Assim se pariu o Brasil e de O profeta do castigo divino.
Falei então para o Pedro sobre A misteriosa morte, confessando que nunca ter ficado satisfeito com as frases que inventara para o personagem coadjuvante, o lusitano senhor Joaquim Manoel Batota.
Pedro Almeida Vieira aceitou então a missão de dar à dicção de Batota a parecença de uma fala realmente portuguesa. Mal comparando, o senhor Batota, gerente de um hotel de Brasília, é da mesma espécie de Watson, o auxiliar de Sherlock Holmes.
Já que falamos do ajudante, não custa nada dizer algumas palavras sobre o principal personagem do livro, Campestre de Campos Campelo, um jovem jornalista gaúcho recém-chegado ao Planalto Central. Anarquista e debochado, é ele quem narra a história toda, que transcorre durante um Seminário Internacional de Escritores Policiais, que teria sido realizado em Brasília no final dos anos 1970.
Os escritores que participam do Seminário são a russa Fedorova Smerdlova Dornascostasviskáia, a inglesa Águeda Christine, o belga Herculano Poire, o americano Dax Chamber, o argentino Jorge Luís Bugres e o chinês Foo Li Shi Man. A espanhola Miguela de Alcazar morre antes de entrar em cena.
Pois bem, este livro poderá agora ser lido no blogue Pelotas 13 Horas. Como engordou para 66 capítulos, sairá em 20 postagens de 3 capítulos. Estou certo de que, na falta de coisa melhor para fazer, os conterrâneos passarão os olhos por essa história. Darão muitas risadinhas, isso eu garanto.
*Jornalista e escritor.
A MISTERIOSA MORTE DE MIGUELA DE ALCAZAR
Lourenço Cazarré e Pedro Almeida Vieira
- Haverá tema mais transcendente?
Comecemos do início.
Não é moderno, sei. Escritores sofisticados preferem contar suas histórias de trás para diante ou aos saltos, indo e voltando. Uns outros, mais arrojados, escrevem até mesmo livros que não têm nem história nem personagens. Mas eu sou jornalista de profissão e, como todos do meu ofício, pratico o texto claro, legível e cronológico.
Aceito, porém, as críticas que nos fazem. Admito que, em geral, os redatores jornalísticos partem sempre de um mesmo princípio: o leitor é uma besta, e a ele se deve facilitar tudo. Concordo quando dizem que enredos óbvios e personagens chapados marcam boa parte da produção literária dos meus coleguinhas.
Não foi, porém, essa a orientação adotada aqui. Acreditamos, desde a primeira linha, que esta obra se destina a um leitor requintado, conhecedor dos clássicos da literatura policial.
Embora comportado no estilo, este livro fornece ao leitor um elevado número de frases rebuscadas – ora irônicas, ora pessimistas – que poderão ser usadas, depois, com grande proveito, em conversações inteligentes.
Os personagens aqui apresentados – seres humanos complexos, de fina inteligência, mas vítimas de incandescentes paixões primitivas – têm profundidade e densidade.
Por fim, a história contada nestas mal traçadas linhas é rocambolesca a ponto de beirar o inverossímil, mas não deixa de ser tocante. Sem me alongar em detalhes, posso anunciar, nesse preâmbulo, que o que se discute aqui é, em última instância, a morte, o termo da vida. Haverá tema mais transcendente?
No entanto, essa matéria nobre é tratada com grande leveza. Deve-se ressaltar, por fim, que este é um livro divertido e movimentado. Assim, o leitor que se delicia com chatices, como o noveau roman francês, pode parar por aqui.
Vamos, pois, à história.
Naquele que foi o dia mais longo que já vivi, acordei por volta das nove horas, me espreguicei e fui ao banheiro. Fiz xixi, lavei o rosto, escovei os dentes, voltei ao quarto, enfiei calça e camisa e saí porta fora.
Sim, o despertar é pleno de verbos.
Como constaram os leitores mais atentos, deixei o apartamento sem comer nada, mas não foi por estar fazendo regime alimentar. Era fim de mês e meu salário havia expirado.
Neste ponto do livro, se fosse dado à análise de questões sociais e políticas, eu provavelmente estaria vociferando contra a exploração dos pobres trabalhadores pelos capitalistas sem coração. Mas não me preocupo com esse tipo de coisa. Segundo meu pai, sou o único pobre neoliberal do universo.
Já que este é um livro sério, devo confessar que minha dispensa não estava totalmente limpa. Eu ainda tinha um pacote de macarrão, dois desodorantes e três tubos de pasta de dentes.
Minha generosa mãe não se importava muito com comida quando eu era pequeno. Não me empurrava papinhas goela abaixo. Para ela, o mais importante era o asseio pessoal. Eu era um guri magro como bicicleta, mas isso não lhe tirava o sono. Ela só ia à loucura quando eu tentava enforcar o sagrado banho diário. Então, ela me lavava na marra e, depois, arrematava a sessão com uns golpes de toalha úmida. A mãe achava que nada de ruim poderia acontecer a um indivíduo que tivesse, por mínimo que fosse, um estoque de produtos de higiene.
- A atração que o imbecil sente pela confusão
Eram nove horas e trinta de uma esplendorosa manhã quando passei pelo Multimídia – José de Ribamar, maranhense, zelador do edifício, apanhador de jogo do bicho no horário do almoço, eletricista e encanador nas horas vagas, e lavador de carro nos finais de semana – que me perguntou:
– E aí, doutor, vai começar a mentir mais cedo hoje?
– Assim foi determinado pelo Senhor, que é bom e justo – respondi. – Exige Ele que coloquemos em prática o talento que nos concedeu. No nosso caso, Multimídia, fomos privilegiados porque recebemos o mais valioso dom dos dias atuais: o de enganar os outros. Por falar nisso, a torneira continua pingando e o chuveiro dando choque. Vais ou não vais consertar aquilo lá?
– Vamos esperar o dia do seu pagamento, doutor. Hoje em dia, nem relógio trabalha de graça. Agora, só funciona com bateria.
Nós brincamos disso. Ele finge que conserta minhas tralhas e eu faço de conta que pago a ele. Multimídia vai ao meu apartamento, aperta um ou dois parafusos e estende a mão. Eu, em pagamento, dou-lhe uma moeda. Invariavelmente a de menor valor. Aí, o jogo fica empate, zero a zero.
Era um belo dia de sol, repito. Nesta passagem devo esclarecer que eu estava em Brasília, Brasil, América do Sul. Não havia neve, como num livro russo; nem névoa cinzenta, como em um livro francês. Que fazer? Sigamos com o dia ensolarado, embora reconhecendo que ele não é literariamente sedutor.
Cruzei o estacionamento e caminhei até meu fusca amarelo, ano 1968, vulgarmente conhecido entre os meus amigos como “Revolução de Maio”.
Naquela manhã, o bravo carrinho estava feliz. Tinha o tanque bem abastecido. No dia anterior, havia bebido tudo que me restava do salário.
Comecei a rodar.
Bem, vejamos. A frase acima não está boa. Um português jamais a escreveria. Um lusitano cravaria: Comecei a rodar com o meu carro. Não, não. Diria: O automóvel, acionado por mim, saiu a rodar. Não, não! Os portugueses sempre são muito exatos. Diria: Dei partida ao motor, depois engrenei a marcha e o veículo pôs-se em movimento.
Rodando a trinta quilômetros por hora, eu me deliciava com a paisagem humana: vestindo macacões alaranjados, garis faziam de conta que limpavam os gramados; frentistas dos postos de gasolina jogavam porrinha; vendedores de carros usados aguardavam o surgimento de algum otário; policiais militares passeavam pelas calçadas, mãos às costas, com a serenidade dos quem sabe que os bandidos dormem pela manhã.
Era, enfim, um típico dia brasiliense.
O automóvel rodava e eu olhava invejoso para os prédios onde milhares de funcionários públicos, que ganhavam mais do que eu, passavam os dias lendo jornais e revistas, xerocando livrinhos de sacanagem, inventando combinações para ganhar na loteria, imaginando processos trabalhistas contra o governo, bolinando faxineiras e fazendo planos para gastar o décimo terceiro salário.
Ao contornar a Estação Rodoviária, para seguir até a sede do jornal, percebi que havia algum rolo na plataforma. Era um corre-corre danado, uma zoeira, um auê.
Embiquei o “Revolução de Maio” e estacionei. Ao puxar o freio de mão, ainda pensei: no jornal, certamente vão me passar um sabão por chegar atrasado à reunião.
Desembarquei. Ao bater a porta do carro, lembrei de meu pai, que vivia dizendo:
– Filho, um imbecil não só atrai a confusão. Ele caminha diretamente pra ela, de braços abertos, sempre na hora mais imprópria e no local menos indicado.
Esse imbecil hipotético, ao qual ele se refere, devo ser eu. Afinal, era filho único.
Com passadas largas, avancei para o enrosco. Penetrei na multidão à força de cotoveladas. No Brasil, se você chega cheio de dedos, pedindo por favor ou com licença, os caras te mandam à merda.
Zunzum, peitadas, empurrões, nervosismo, histeria, gritos, pânico, muito sangue e algumas vísceras. Cheguei ao centro da aglomeração.
- Discurso sobre a morosidade da Justiça brasileira
Era um acidente de trânsito.
Um belo acidente, diga-se de passagem. Do ponto de vista jornalístico, evidentemente. Cerca de dez mortos e vinte feridos.
Para obter detalhes, entrevistei alguns passageiros de um dos ônibus envolvidos no acidente. Enquanto anotava, eu observava a retirada dos feridos. Os socorristas eram tão estabanados que, num primeiro momento, julguei que estavam tentando quebrar os ossos das vítimas que não tinham ferimentos visíveis. Não há nada tão perigoso para um acidentado quanto a solidariedade afoita de um brasileiro.
De repente, deu-me um estalo. Corri ao telefone público e liguei para a redação:
– Mandem já um fotógrafo. Tá cheio de presunto aqui na Rodô.
Presunto, na castiça linguagem dos jornalistas, quer dizer vítima fatal, falecido ou ente querido.
O desastre foi assim: o motorista de um ônibus vindo de Taguatinga, com cem pessoas a bordo – embora sua capacidade máxima fosse, entre sentados e em pé, de 72 passageiros -, não freou no momento em que se esperava que fizesse isso. Destarte, literalmente entrou com seu veículo para dentro de outro, igualmente superlotado, que manobrava para estacionar.
Esse tipo de batida é conhecido como engavetamento.
Dez minutos depois, quando o fotógrafo do jornal chegou esbaforido havia ainda cinco corpos enfileirados no chão sujo, cobertos por folhas de jornais.
Aquilo rendeu uma bela foto. Para os padrões brasilienses, me apresso em esclarecer. No Rio de Janeiro e em São Paulo, cena como aquela não impressionaria. Certa vez um editor de polícia de um jornal paulista me disse:
– Pra chacina com menos de dez presuntos, meu, nem mando fotógrafo.
Desloquei-me para o local onde os bombeiros estavam tentando, a golpes de machadinha, tirar um ônibus de dentro do outro.
Algumas pessoas ainda agonizavam nas ferragens, para o mal disfarçado gáudio de um repórter de rádio, que estendia para elas o seu ansioso microfone.
Em meio ao cenário dantesco, eu processava mentalmente os depoimentos que havia coletado e já estruturava a minha reportagem.
Os sobreviventes juravam que o motorista do ônibus que saíra de Taguatinga estava de porre; que fizera a viagem a mais de cem por hora, rindo histericamente; que não se detivera numa só parada intermediária; que xingara meio mundo pela janela aberta.
De repente, um homenzinho colocou-se na minha frente:
– Felizmente, o motorista morreu, irmão. Seria uma injustiça divina se o mesmo permanecesse vivo depois de tudo o que nos fez passar…
Como não gostei da cara dele e odeio a expressão o mesmo, resmunguei:
– Morreu. Que bom! Está, enfim, descansando junto ao Pai.
– Descansando? Ele tá é fritando no inferno.
– O inferno não tem mais fogo – eu disse. – O Diabo não pagou a conta, cortaram o fornecimento de lenha.
– O negócio é o seguinte, irmão – insistiu o baixinho. – Escreva na sua reportagem que o referido condutor estava embriagado e que, por isso, a gente estamos a fim de reclamar na Justiça uma indenização da empresa de ônibus.
Aquela frase me impressionou.
Olhei bem para ele. Era um cara de uns cinquenta anos, magro, mirradinho dentro de um terno outrora azul marinho. Tinha cara e físico de ascensorista de ministério.
– Acho que podes acionar a empresa – eu disse. – Mas, cá entre nós, estarás vivo quando sair a sentença daqui a uns trinta anos?
– Trinta? – espantou-se ele.
– Ou mais. Essa empresa tem vinte advogados que vão ficar empurrando o processo com a pança, enquanto tu vais cair na mão de um advogado de porta de cadeia que vai te zerar a poupança. Deixa o processo pra lá, não esquenta!
O baixinho escafedeu-se. Não esperava uma opinião tão rude sobre a advocacia brasiliense. Mas eu sou assim mesmo: gosto de sacudir as pessoas. Especialmente se são menores do que eu. E aparentam ser mais pobres.
Segue nos próximos capítulos…
*Jornalista e escritor.