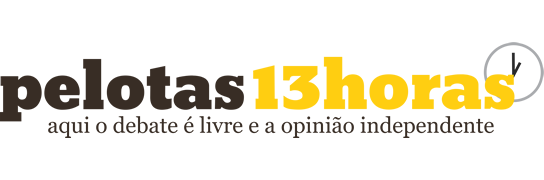O PADEIRO E A FLORISTA
Lourenço Cazarré*
Sempre achei que os portugueses eram mais numerosos em Pelotas do que realmente são. Talvez porque tenha frequentado por muitos anos – guri e adolescente – o Centro Português para ferver nos bailes de carnaval. Ou porque, seguidamente, visitava um parente baixado na Beneficência Portuguesa.
Recentemente descobri que entre os 4 milhões de imigrantes que chegaram ao Brasil – de 1884 a 1933 – os mais numerosos eram os italianos, com 1,4 milhão. Os portugueses formavam o segundo maior contingente: 1,1 milhão.
Examinando o período que realmente me interessava – a primeira década do Século 20, quando desembarcaram meus avós –, descobri que, dos 220 mil portugueses entrados naquele decênio, apenas 1.000 (0,5%) instalaram-se no Rio Grande do Sul.
Só mais um número. O censo de 1940 apontou que as duas maiores colônias de portugueses no Estado se encontravam em Porto Alegre (2.100) e Rio Grande (1.830). Pelotas apareceu no terceiro lugar (1.200).
Na verdade, a Princesa do Sul tem uma formação cosmopolita. Cidade antiga, muito rica no final do Século 19 e começo do 20, recebeu gente de todo canto. Muitos alemães e italianos, mas também franceses e ingleses. E árabes – libaneses e sírios, católicos – saídos do Império Otomano, daí serem chamados “turcos”. E judeus e poloneses. E os africanos que, escravizados, enfrentaram a insalubridade das charqueadas. E muitos castelhanos – em grande parte bascos – entrados por Jaguarão e pelo Chuí.
Mas eu vou me concentrar mesmo é nos meus avôs que chegaram a Pelotas – falando aquele linguajar cantante que tanto encanta e confunde os brasileiros – vindos do Norte da Terrinha, de uma região cortada pelo sinuoso rio Douro.

Viúvas de maridos vivos
Comecemos pelo barbado. Meu avô Alfredo Cardoso da Silva – filho de Augusto Cardoso da Silva e de Maria Rita – nasceu em 1896 na aldeia de Santiago de Piães, no concelho (município) de Cinfães, numa região então conhecida como Trás-os-montes. Viajou para o Brasil em companhia de seu pai, deixando para trás a mãe, três irmãs e um irmão, chamado Carlos. Que jamais vieram a juntar-se a eles na nova pátria.
Isso era bastante comum entre os paupérrimos imigrantes lusitanos. Só uns poucos deles conseguiam juntar dinheiro para trazer a parentada.
Na maioria homens, e muito jovens, como em todas as demais levas imigratórias, alguns arranjavam por aqui novas companheiras. E as esposas e noivas ficavam por lá, viúvas de companheiros vivos, enterradas em roupas negras, arrancando o pão de uma terra pobre, áspera e desolada.
A mortífera acha de lenha
O vô Alfredo chegou a Pelotas aos 18 anos. Depois de trabalhar por um tempo em um depósito de pão, que montou com o pai, foi labutar na padaria Souza, que funcionava na esquina de Álvaro Chaves com a então Moreira César (Tamandaré), lá pelas bandas do Porto. Os proprietários da panificadora eram Pedro Souza (português) e Eumênia (brasileira), que batizariam, muitos anos depois, Edith (Dadá), uma das filhas gêmeas de Alfredo.
Um traço comum a muitos europeus que migraram para o Sul da América era a existência, nas cidades para onde se dirigiam, de “patrícios” já estabelecidos, que os auxiliavam na chegada, arranjando emprego e hospedagem. Creio que foi esse o caso de meus ancestrais.
Conto agora um causo triste. O casal Souza tinha um filho, chamado Arlindo, de oito ou dez anos, que foi morto por uma acha de lenha jogada contra ele por um homem que padecia de algum problema mental. Dona Eumênia costumava dar pão a esse homem, chamado Turiba. Durante uma festa de São João, não se sabe por qual motivo, o Turiba desfechou o golpe no menino.
E assim a Dadá (Edith), minha tia-mãe, 90 anos, principal informante na escritura desse texto – senhorinha que duas vezes por semana se exercita na Academia Evandro Saraiva, na Chácara das Pedras, em Porto Alegre -, conclui o causo: “E esse Turiba, que era meio doidinho, quando viu que havia matado o guri, ficou inteiramente louco e teve de ser internado”.

Nove filhos, seis mortos na infância
Alfredo casou-se com Henriqueta Simões em 1918. Em 1920, o casal teve seu primeiro filho, Carlos, que morreria aos dois anos de tuberculose.
Maria – que seria sempre chamada Lilia –, a segunda, veio à luz em 1922. Depois dela enfileiraram-se mais sete rebentos. Dos nove filhos, só seis vingaram, como se diz nos pagos. A mortalidade de 33 por cento dos Cardoso da Silva era mais ou menos a mesma de toda gente pobre daquela época.
Dos seis que se criaram, três eram muito claros de pele: Lilia, Alfredo e Odette; dois eram morenos de cabelo preto: Edith e Antônio; e um era tão ruivo e sardento que parecia um irlandês: Osmar.
O terceiro filho, também chamado Alfredo, nascido em 1924, morreu em 1971. Em 1970, teve uma perna amputada em decorrência da diabetes.
Valdemar, nascido em 1926, morreu aos seis anos de um tumor na perna. Em tratamento, era levado no colo pela mãe da Tiradentes com Bento Martins até a Santa Casa – caminhada de uns 4 quilômetros. Seus irmãos contavam que Valdemar teve os ossos da perna “carunchados” pela doença.
Antônio, nascido em 1928, morreu em 1991. Casado com Isabel, teve três filhos: Carlos Antônio, que nasceu em 1960 e morreu em 1963, de paralisia infantil; Isabel Cristina, a Teca, nascida em 1965; e Lúcia Helena (1966/2006).
Osmar, o mais prolífico, nascido em 1929, morreu em 1986. Casou-se em 1950 com Nila Gouveia e com ela teve cinco filhos: José Alfredo (1951), Osni (1954), Luís Francisco (1954), Maria (1958) e Fernando (1960).

O batizado das gêmeas
Em 1932, vieram as gêmeas bivitelinas: Edith (que mais tarde só seria conhecida como Dadá, apelido que recebeu da sobrinha Maria Lúcia) e Odette, minha mãe.
Vamos contar aqui uma historinha do batizado das gêmeas. Certo dia apareceu na casa de meus avós a dona da padaria, Eumênia. Viera para conhecer a menina que iria batizar, a que havia nascido primeiro.
“A Vovó, que não gostava de mim – conta a Dadá – perguntou a dona Eumênia se ela não queria batizar a mais branquinha e mais gordinha, que era a Odette. Dona Eumênia disse que não e foi assim que ela virou a minha madrinha”.
Figura marcante, a Vovó, minha bisavó materna, deixou muitas histórias na lembrança de seus netos.
Voltando à filharada de Alfredo e Henriqueta: por fim, em 1934, nasce Daura, a Daurinha, que morreria aos 9 meses, vítima de meningite.
A escolinha de dona Mosa
O pai e o filho Alfredo tinham a mesma largura e estatura: donos de ombros largos, passavam com folga do metro e setenta. Osmar e Antônio eram um pouco mais baixos. Os filhos homens não avançaram além da terceira série do primário.
As gêmeas concluíram o primário no Joaquim Assumpção, a poucas quadras de onde moravam. Edith fez lá também um curso de Corte e Costura e Odette, de Contabilidade.
Odette e Edith foram alfabetizadas em um ano por dona Mosa, professora que tocava uma escolinha particular na Tiradentes com Bento Martins. Depois, ficaram um ano fora da escola – não se sabe por quê – até serem admitidas no Joaquim Assumpção, já na terceira série.
Os filhos começaram a se casar em 1945. Lilia foi a primeira. Depois saíram de casa Osmar (1950), Alfredo (1951) e Odette (1952).
Uma rotina de muito trabalho
Toda madrugada, por volta das duas horas, a bordo de sua carroça, o vô Alfredo ia até a padaria. Lá, enrolava os pães e saia para entregá-los à clientela. Pelas seis da matina, voltava para casa, tomava o café e tirava uma pestana até às nove, quando retomava o basquete. Ao meio-dia, já em casa de novo, derrubava o almoço e ia sestear.
À tarde, exercia outro mister: cuidava de uma horta que mantinha no pátio imenso de sua casa, cuja frente dava para a rua Tiradentes e que tinha um portão lateral na Bento Martins. Plantava cebola, couve, tomate, vagem e milho para vender à vizinhança e também para o consumo da filharada.
Numa cocheira, que ficava ao lado do galinheiro, meu avô guardava seu rocim e a carroça.
Pessegueiros, goiabeiras, laranjeiras e vergamoteiras contribuíam com a sobremesa, as geleias e as compotas.
Sempre me surpreendeu a localização e a extensão dessa chácara. Mesmo estando a poucas quadras da centralíssima praça Coronel Pedro Osório, a casinha de madeira alugada pelos meus avós possuía um pátio que ocupava exato meio quarteirão!
No andar de cima, ficavam o quarto das moças e o dos brutamontes. Em baixo havia o quarto dos pais e uma ampla sala-cozinha. As necessidades eram cumpridas numa casinha, com uma fossa profunda, sem cabungo, no pátio.
Pescaria de sapos e “o primeiro sono”
Na parte da frente do terreno – enfeitado por um laguinho, cuja água brotava ali mesmo -, a vó Henriqueta plantava rosas, dálias e hortênsias. Era florista de mão cheia. Vendia toda sua produção para festas de casamento e dias santos.
Nesse laguinho havia muitos sapos grandalhões e também duas tartarugas que sumiram durante a enchente de 1940. A sapeca Odette pescava os batráquios com anzóis improvisados com alfinetes.
Já a pequena Edith gostava de esperar o pai quando ele voltava da entrega dos pães. Lá pelo meio-dia, ficava por perto da porteira da Bento Martins, atenta ao barulho da carroça, que entrava por ali. À noite, por volta das oito, deitava-se com o pai que ia dormir o “primeiro sono” dele, o sono que desfrutava antes de partir, de madrugada, para a padaria. Quando ela adormecia, o pai a pegava no colo, subia as escadas e a deitava no quartinho das gurias.
Vinho, fumo, bacalhau e bifes
Todo dia, na hora do almoço, o vô bebia um copo de vinho. Nos domingos, o casal servia meio copo para todos os filhos. As meninas completavam o copo com água e botavam açúcar para fazer um refresco. À noite, o vô mudava para um drinque tupinambá: a cachacinha com limão.
Como muitíssimos homens de sua época, o vô Alfredo fumava. Carregava permanente um pacotinho de fumo e um “livrinho” de papel para enrolar seus cigarros. Em casa, na cozinha, havia pedaços de fumo em corda, que era cortado e picado para a preparação dos pitos. Seus três filhos homens o seguiram no tabagismo.
Para meu outro avô, Leovegildo Cazarré Júnior, eu comprei muitas vezes pacotinhos de fumo Ouro Pelotense e papel Colomy.
Embora a grana fosse curta, de vez em quando a família comprava bacalhau. Trazidas do Mercado, as grandes peças eram penduradas em um gancho ao lado do fogão à lenha. O filho mais velho cortava com seu canivete tiras de bacalhau que lavava demoradamente na pia, para tirar o sal, e depois colocava no meio do pão junto com cabeças amassadas de alho.
Bifes só nos domingos. Em dias comuns, os cortes (polpa e chuleta) viravam guisadinhos com batata, couve ou cenoura. A polpa, se não me equivoco, mudou de nome: foi promovida a coxão mole. Os bifes melhores eram destinados pela vó aos seus filhos preferidos: os mais velhos, Lilia e Alfredo. Os guisados obrigatoriamente eram sempre acompanhados por feijão e arroz. A vó fazia também massas e nhoque, fritava pastéis e de vez em quando aprontava uma fornada de queques (usando os ovos das patas e das marrecas, mais substanciosos).
O parto da gata preferida
Nos domingos, o único lazer da família era a visita aos compadres Ferreira, Aires e Glória, portugueses também, que moravam com seus 4 filhos no local onde anos depois se instalaria a fábrica da Pepsi.
Os Cardoso da Silva e seus seis filhos seguiam até lá a pé pela Barroso, abaixo da qual só havia matos de árvores rasteiras e banhados. Um tambo ocupava uma quadra inteira. Aires Ferreira e sua esposa eram compadres porque haviam batizado Dorinha.
Depois do almoço, os homens adultos jogavam cartas. Sem dinheiro na parada. Para esse carteado, aparecia sempre um português: seu Bernardo, pintor, primo da vó Henriqueta. E um castelhano, conhecido apenas como “o paisano”.
Na semana seguinte, era a vez de os Cardoso da Silva receberem a visita dos Ferreira na Tiradentes para mais um regabofe e carteado.
Certa vez houve uma baita confusão na hora em que aquele montão de gente ia se acomodar para o almoço. De repente, escutaram uns miados fraquinhos. Descobriu-se então que a gata preferida do vô Alfredo havia parido dentro de um gavetão encaixado na mesa de refeições. A vó Henriqueta, que não era das mais calmas, ficou buzina da vida por ter de limpar a improvisada sala de parto. Isso ocorreu em meados de 1944, quando a tia Lília ficou noiva do tio Zé.
Melhor não adoecer
Se alguém ficava doente, uma criança era mandada até a farmácia Arruda, na Telles esquina Gonçalves Chaves para buscar os remédios, que, aliás, eram pouquíssimos naquele tempo. Às vezes precisavam recorrer à Khautz, no centro; ou à União, na Floriano perto da Praça dos Enforcados; ou ainda à Popular, na Quinze com Dom Pedro II. Só para comparar: hoje existem quatro farmácias em muitas das quadras centrais de Pelotas.
Para os casos mais graves, a solução era rezar. Ou recorrer aos institutos de assistência de sua categoria funcional. O vô era associado ao IAPETEC (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transporte de Cargas), cujo atendimento não era dos melhores. Em Pelotas, o bom mesmo era ser do IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados na indústria).
Mas o mais recomendável naqueles tempos duros era não adoecer.
Sustentar o cavalo ou dançar com a vassoura?
Mais para o final da vida, ultrapassado o cinquentenário, o vô Alfredo – já adoentado – foi trabalhar como faxineiro das garagens de uma revendedora de carros Chevrolet, que funcionava perto dos Correios. Esse posto foi obtido através do tio Alfredo, que era então subchefe da oficina.
Por que o vô trocou o pão e a horta pela vassoura?
Porque a trabalheira de entregar os pães e de cuidar da carroça estava ficando pesada demais para ele. E dançar com uma vassoura cansava menos. Além disso, no novo emprego, parou de gastar com alfafa e milho para a cavalgadura.
Contra pneumonia, cafezinho quente
O tio Alfredo começou a trabalhar em 1937, aos treze anos, como entregador de mercadorias do armazém do seu Inácio Machado, que ficava na Gomes Carneiro esquina Santa Cruz. Certo dia, foi ao porto levando as compras feitas pelos tripulantes de uma embarcação. Era inverno, um frio danado e ele acabou desabando no São Gonçalo. Pegou uma pneumonia danada.
O médico que foi chamado em casa – luxo para a época – o desenganou. Henriqueta, que nutria um amor fortíssimo pelo filho mais velho, dedicou-se a tratá-lo com uma sequência interminável (e salvadora!) de cafezinhos quentes.
Ao mesmo tempo, misteriosamente, uma das gêmeas, Odette, então com cinco anos, também foi acometida pelo mesmo mal.
Salvos os dois, para agradecer a graça recebida do céu, a cura simultânea dos filhos, Henriqueta passou a levar a outra gêmea, Edith, fantasiada de anjinho às missas da Igreja do Porto.
Por falar em saúde, Dadá – que iniciou sua nona década de vida em fevereiro deste 2022 – foi pela primeira vez “ao doutor”, como se diz na Princesa do Sul, aos 29 anos. Antes, só teve mesmo uma dor de ouvido, aos 8 meses, que padeceu depois de ser banhada em água fria por duas primas adolescentes.
Carola mesmo só A Vovó
Os Cardoso da Silva eram católicos. Não mentirei que eram devotos, não. Carola mesmo só a Vovó que, até nos dias de tormenta ou granizo, não faltava à missa das seis da manhã na Igreja do Porto, que por muito tempo esteve sob o comando de monsenhor Luiz Gonzaga Chierichetti.
Participar da procissão de Navegantes era programa imperdível para quem frequentava aquele templo. A tia Lília ia a todas as procissões. Minha mãe foi a algumas. A Dadá foi a uma só e deu! Tinha medo que o barco afundasse.
Nunca me esqueci da sonoridade do nome tão frequentemente citado na casa de meus avós: Monsenhor Quiriquéti. Só recentemente soube a grafia correta e descobri que este santo homem foi transferido para a Igreja de São Pedro, em Rio Grande, no ano de 1952.

Carnaval, cinema e viagens de trem
Já que estamos falando da Noiva do Mar, devo relatar aqui que um dos principais divertimentos das três filhas de Alfredo, de suas primas (Zilda, Laura, Nair e Quininha) e das amigas Definski (as irmãs Emília, Odette, Zulma, Iolanda e Ivani) era apanhar o trem nos domingos para passear nos vilarejos que ficavam entre as estações de Pelotas e Rio Grande: Capão Seco, Quinta, Junção e Povo Novo. Levavam bolos e salgados, compravam lá os refrigerantes e lanchavam nas praças. À tardinha, voltavam para enfrentar a labuta inevitável das segundas-feiras.
Estamos no começo dos anos 1950. Às vezes, essas moças frequentavam as sessões domingueiras do cine Apollo. Mas esse programa variava conforme o dinheirinho de que dispunham. Sempre escasso.
Na época de carnaval, todas elas alugavam cadeiras na frente da Biblioteca Pública. Antes, economizavam para desfrutar as noites intermináveis de uma festa então maravilhosa. Elas se divertiam muito. Inclusive porque os rapazes ainda não eram abusados.
Bromberg e Mazza
O meu pai (João Carlos) e a minha mãe conheceram-se em 1948 em um curso de Contabilidade. Ele estava com 20 anos, ela com 16. Depois desse curso, a mãe deixou o comércio e foi trabalhar no escritório de uma granja, na rua Tamandaré. Casaram-se em outubro de 1952. A mãe era boa em contabilidade, me contou a Dadá. Tão boa que certa vez só ela conseguiu descobrir um erro nas contas da empresa em que o pai trabalhava em Bagé.
O pai começou a ganhar ao pão com o próprio suor aos 14 anos como abridor de caixas no depósito do Bromberg, grande empresa de ferragens e material agrícola. Bom de gogó, logo chegou a balconista. Com 24 anos tornou-se vendedor pracista em Bagé. O pai viveu 14 anos na Rainha da Fronteira, onde reforçou sua linguagem já bem afiada com dezenas de ditos gauchescos, com os quais costumava colorir suas palestras.
A Dadá – que alguns anos depois da morte de sua gêmea seria a segunda esposa do meu pai – começou a trabalhar como costureira do Magazine Mazza em 1960. Havia lá meia dúzia de alfaiates, chefiados pelo senhor Geraldo Rizzolo. Sete eram as costureiras que ajeitavam roupas de mulheres e crianças. Tinha até passadeiras! Bem, após o casamento, em 1966, Dadá deixou de ir diariamente ao imenso edifício da Andrade Neves.
Macacões sujos de graxa
Meus três tios maternos eram mecânicos. O tio Alfredo – o mais alto, o mais claro e o mais careca – desbravou o caminho. Teve sucesso como mecânico já bem cedo. Chegou a subchefe da oficina. Foi ele quem conseguiu emprego para seus irmãos mais jovens, Antônio e Osmar, quando a empresa precisou de “uns guris novos”, como me contou a Dadá.
Odette, minha mãe, começou a trabalhar aos 16 anos em uma loja de confecções – A Formosa, no centro, na Rua Andrade Neves – que pertencia a um casal de judeus, seu Luís e dona Rute.
Edith ficou em casa – por determinação da vó Henriqueta – para ajudar nos serviços domésticos. Acontece que em 1949 a vô teve um derrame e, como se dizia, ficou paralítica.
Assim, a garota de 16 anos que antes arrumava as camas, varria o chão e lavava a louça herdou, de supetão, a cozinha e a lavanderia de um batalhão formado por quatro marmanjos e quatro mulheres. Sua professora de culinária foi a Vó Mina, sogra da tia Lilia.
Mas era preciso também limpar e arrumar a casa.
Em se tratando de limpeza, o que mais dava trabalho a jovem Edith era cuidar da roupa dos seus manos mecânicos, que sempre vinha imunda. Por isso, ela passava boa parte dos seus finais de semana em torno do tanque. Tinha que lavar e passar os ternos do Alfredo, que era o mais janota. Os outros dois, menos graduados, usavam macacões. Era uma trabalheira insana. Dadá precisava misturar querosene à água (que era colocada a ferver em tinas enormes) para tirar as manchas de óleo.
A minha quase morte
Em 2 de outubro de 1952, três anos depois de sua esposa, Alfredo também sofreu um derrame. Morreu dezenove dias mais tarde, após podar uma parreira. Estava com 57 anos.
Já que falamos em ziquiziras, devo confessar aqui que quase me defunteei, recém-nascido, com menos de um mês de vida, quando padeci de estreitamento do piloro (moléstia que impedia de engolir alimentos, que me fazia vomitar constantemente).
Uma lenda da família conta que quando fiquei mais magro que filhote de faquir, minha jovem mãe entrou em parafuso. E eu acabei sendo salvo pela vó Mina (na verdade, Guilhermina, avó de fato da minha prima Maria Lúcia Vera Cruz).
Foi desse jeito: nasci em Pelotas em julho de 1953, mas, quinze dias depois do parto, viajamos a mãe e eu para Bagé, onde morávamos. A vó Mina foi junto para ajudar a mãe durante o primeiro mês. Mas aconteceu que eu adoeci e ela precisou transformar-se em enfermeira. Só ela tinha a tranquilidade suficiente para, insistentemente, me enfiar goela abaixo, com uma colherinha, uma gororoba feita com uma farinha especial (novidade na época). Como essa tal farinha era pesada, eu não conseguia devolvê-la. E foi assim que não engrossei as estatísticas de mortalidade infantil. E foi por isso que a Vó Mina passou três meses na cidade fronteiriça.
Um guri com quatro avós
Das minhas quatro avós a Mina era aquela à qual eu era mais ligado.
Bah! Por que quatro?
Bem, as avós da certidão eram a portuguesa Henriqueta e a (irlandesa?) Marieta Douglas Coelho. O sobrenome Douglas talvez venha dos irlandeses que estabeleceram, por volta de 1850, duas colônias em Pelotas. A mãe do meu pai, que tinha parentes no Morro Redondo, morreu quando estava com pouco mais de vinte anos e seu filho mal completara um aninho.
Aparece então a terceira avó, Edméa Bastos, baixinha e gordinha, a segunda esposa do meu avô Leovegildo. Com sua letra elegante, torneada, a vó Edméa assinava os meus boletins – bastante dignos – do curso primário no Grupo Escolar São Vicente de Paulo.
Por fim, surge a quarta vovozinha, a Mina.
Por que eu era ligado a ela? Porque, velhaco desde pequeno, eu ficava todo bobo quando ela dizia que eu era o máximo da perfeição humana. Eu era um mandinho bom (só no primário) de matemática. E sabia escrever redações. Por isso, a vô Mina vivia metendo achas de lenha na fogueirinha do meu orgulho. Dizia e repetia: “Este guri ainda vai longe, vai chegar a presidente da República”. Errou no cargo, mas acertou na localidade.

A vó que odiava tirar retratos
Asmática em grau avançado, magérrima e eternamente vestida de negro, vó Mina tinha os cabelos pretos – aos 70 anos contava com meia dúzia de fios brancos – enfeixados em uma grossa trança que lhe chegava à cintura. Passava os dias e as noites na sua cadeira de balanço rezando infindavelmente o rosário que sempre trazia entre os dedos ossudos. Digo “noites” porque vó Mina era insone. A asma não lhe permitia um descanso mais prolongado. Lembro que durante algum tempo, à noite, ela fumava cigarros de beladona, erva que lhe recomendaram como antídoto para a falta de ar.
Vó Mina odiava tirar retratos. Nos poucos em que aparece, ela esconde o rosto ou abaixa a cabeça. Por isso, desenho aqui, com letrinhas, este retrato carinhoso.
Corretivos sem berreiro ou palavrões
Voltando ao meu avô Alfredo. Ele era um sujeito calado. Não falava de sua vida em Portugal. Nunca explicou aos filhos como ele e Henriqueta, nascidos em uma cidadezinha do Norte da Lusitânia, vieram a encontrar-se no extremo Sul do Brasil.
Vô Alfredo nunca disse um só palavrão na frente dos filhos. Falava com o olhar. Os guris se encolhiam diante de uma mirada mais intensa.
De pele muito clara e olhos esverdeados, o vô possuía uma cintilante calva que lhe tomava quase toda a cabeça. Para contrabalançar, ostentava um largo bigode de pontas reviradas.
Era um homem justo. Raramente surrava os filhos homens. Com método e vigor, usando corda ou cinta, mas discretamente, sem berreiros, só atuava quando os marmanjos realmente necessitavam de um corretivo.
Duas mortes em barcos
Minha avó materna – depois de casada Henriqueta Simões da Silva – era filha de Maria de Jesus e de Augusto Simões, ambos também nascidos na aldeia de Santiago de Piães.
Henriqueta veio para o Brasil aos dez anos, em 1908, acompanhando seu pai e um irmão. Sua mãe, conhecida pelos netos como “Vovó”, só viria dez anos depois.
O irmão de Henriqueta, chamado Manoel, morreu – fala-se que foi em Santa Catarina – durante uma pescaria. Foi assim: esse miúdo – cujo pai era pescador – estava dormindo quando chegou um tio e o arrancou de casa. Precisava que o menino o ajudasse a pescar. Foram. No barco, o pequeno voltou a desabar no sono. De repente, levantou-se e se encaminhou para a borda. Caiu, afundou e morreu nas águas escuras e frias. Detalhe terrível: o garoto era sonambulo.
O pai de minha avó também morreu num barco. Teve um enfarto fulminante. Parece que foi na Colônia de Pescadores São Pedro (Z/3), mas não se sabe em que ano.
Quando fala de sua mãe, Dadá refere-se sempre a esse incidente da pescaria fatal e a outro, curioso, que teria também se passado em Santa Catarina. Foi num porto daquele estado que a vó Henriqueta teria visto, pela primeira na vida, uma pessoa negra. Não há hoje, vivo, quem possa esclarecer essa misteriosa passagem dos Simões pela terra dos barrigas verdes.
Amparada pelo marido
Em Pelotas, a vó Henriqueta teve a companhia de uma irmã, Emília, que se casou também com um português, David Teixeira, que era tanoeiro.
Não sabe o que é tanoeiro? Favor ir ao Aurélio.
Minha avó começou a trabalhar aos 14 anos na Fábrica de Tecidos Pelotense, que funcionava nas proximidades do Porto. Permaneceu por lá até 1918, quando juntou seus panos aos de Alfredo. Depois de casada, tendo um filho após outro, não pode mais trabalhar fora. Nem se esperava isso de uma mulher naquele tempo.
Em novembro de 1949, sofreu um AVC que lhe atingiu o lado esquerdo do corpo. Perdeu o movimento do braço e parcialmente da perna. Mas conseguiu ainda por muitos anos caminhar – com dificuldade crescente – ao redor da casa, amparada pelo marido. Após a morte dele, deixou de se exercitar.
Telas A Lusitana e Armazém Centenário
Eu me lembro dela, nos anos 1960, ainda caminhando, muito devagar, amparada na parede e nos móveis do chalé cinzento, úmido e frio em que a família morava na Tiradentes. Passava os dias na sala penumbrosa, soltando de vez em quando um sentido “Ai, Jisuis!”
A Tiradentes era então uma via muito movimentada. Passavam por ali os carros e ônibus que se dirigiam à Balsa, que atracava no final daquela rua, na margem do São Gonçalo.
Defronte à casa da nossa família havia uma empresa que fabricava e vendia telas: A Lusitana. Na esquina ficava o armazém Centenário, comandado pelo “alemão” Milton Muller.
Depois, lá pelo final dos anos 1960, a vó não mais deixava a cama. Morreu em julho de 1975. Eu não estava em Pelotas. Tinha viajado até Bagé com meu irmão Carlos Augusto (Guto).
Comprando balas com um pedacinho de papel
Por falar no armazém Centenário, narro agora um episódio ocorrido lá e no qual representei o papel principal.
Estávamos, minha mãe, minha irmã Margarida e eu – então morando em Bagé – em visita à casa da vó Henriqueta na Tiradentes. Eu tinha 4 anos.
Certo, dia, por volta das seis da manhã, deram pela minha falta. Corre-corre, gritaria e nada me encontrarem. A Dadá foi então à porta da frente. Do outro lado da rua, com uma mão no meu ombro, o Milton da venda – como era conhecido – a chamou. Dadá foi até lá me pegar. Talvez pelas orelhas.
Acontecera o seguinte: como via que os adultos irem até a venda com um papelzinho, no qual anotavam o produto de que precisavam, eu fui até lá levando na mão um pedacinho de papel de embrulho.
Quando a Dadá quis me arrastar de volta para casa, eu reclamei, indignado: “Mas o Milton ainda não me deu as balinhas!”.
A bronca da vó com o jovem acrobata
Minha avó Henriqueta não era sopa, como se diz na Princesa do Sul. Era muito braba, encrenqueira mesmo. Quando eu dava saltos mortais no sofá da casa da tia Lilia – e eu era um promissor acrobata que treinava o tempo todo -, ela gritava para mim no seu mavioso sotaque luso:
– Deixa estar, menino! Deixa estar que eu vou contar para o teu pai!
Minha avó não era de abraçar ou beijar, nem mesmo filhas e netas. Por nada, xingava guris ou gurias, indistintamente. Há quem diga que ela só tinha olhos para seus filhos mais velhos, Lília e Alfredo, que eram aqueles que botavam o grosso da grana que entrava em casa.
A título de aposentadoria, durante muitos anos, a vó recebeu um quarto de salário-mínimo. Só começou a ganhar um mínimo inteiro em 1967, no governo Castello Branco. Morreu aos 77 anos.
O causo da galinha engasgada
Além de fazer uns trocos com seu belo jardim, a vó Henriqueta também pilotava com grande competência o galinheiro da casa que produzia bateladas diárias de ovos, que eram distribuídos também para os parentes. E para conhecidos que padeciam de tuberculose. Havia ainda patos e marrecos.
Era esse esquadrão de seres penosos que garantia os almoços de muitos domingos e as sopinhas para os adoentados.
Nesse campo, a vó Henriqueta protagonizou uma história que muito divertia a família.
Certo dia, notando que uma de suas galinhas estava adoentada, apalpou o pescoço da bichinha. Descobriu que ela estava engasgada com uma maçaroca dura: comida não digerida. Não vacilou. Pegou uma tesoura, passou-a sobre as chamas do fogão e com ela abriu o papo da cacarejante. Retirada a porcaria, costurou o rasgo. A penosa voltou a ciscar com entusiasmo.
Passados muito meses, num domingo, quando sacrificavam uns galináceos para o almoço dominical, uma sobrinha de Henriqueta deu um berro de filme de terror. Ao depenar uma galinha, a guria – chamada Quininha – notou que um fio de barbante pendia do pescoço da falecida. Era o cordão com o qual minha avó – “veterinária” competente! – havia suturado o corte salvador no papo da embuchada.
Vovó vai até a Igreja da Luz
Conto agora uma aventura da Vovó, minha bisavó materna, que faleceu em 1951, quando estava com 75 anos. Muitos anos antes, porém, segundo a Dadá, a cabecinha dela já andava rateando: “A Vovó estava já meio caduca. Não atinava com as coisas. Roubava escondido comidas das panelas”.
Seguidamente, a Vovó saia a passear sozinha pela cidade para visitar parentes ou amigas portuguesas. Costumava se orientar pela torre da Igreja do Porto, na zona Sul. Mas certa vez se confundiu e acabou chegando à Igreja da Luz, na parte Norte da cidade, a uns três ou quatro quilômetros de distância.
Um carroceiro que passava por lá a reconheceu e perguntou: “O que a senhora está fazendo aqui, Vovó?” Ela respondeu: “Meu filho, acho que estou perdida! Que igreja é esta?”
O carroceiro deu-lhe então uma carona. Queria desembarcá-la na porta da casa da família, mas ela pediu para descer antes, a fim de que ninguém soubesse da sua peripécia. Mas o dono Centenário descobriu o causo pelo carroceiro e o contou ao meu avô, que se divertiu uma barbaridade com aquela história.
A Vovó costumava ir todo dia à venda do Milton que a recebia com uma pergunta: “Veio fazer o seu joguinho do bicho, Vovó?”.
A dolorosa morte do meu bisavô paterno
No final de sua vida, meu bisavô Augusto Cardoso da Silva morava no Capão do Leão, onde cuidava de uma chácara de uma família que era proprietária de ferragem em Pelotas. Em 1947, depois que teve uma perna amputada, ele foi morar na casa de seu filho na Bento Martins.
Quando, na Santa Casa, informaram que teriam de lhe cortar a segunda perna, ele recusou-se a fazer a operação. Morreu ao final de um longo sofrimento. Seus netos testemunharam cenas tremendas de dor e desespero.
*Jornalista e Escritor