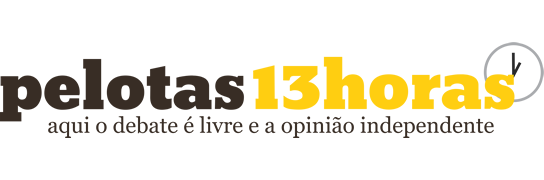RECORDAÇÕES DE UM UNIVERSITÁRIO MEIA BOCA
Lourenço Cazarré*
O que me levou, há exatos cinquenta anos, a prestar o vestibular para o curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Pelotas?
As más companhias.
Embora não pensasse muito (na verdade, nada) sobre a universidade, acho que estava me encaminhando para o Magistério. Queria ser professor de História, como meu tio Antônio Milton Cazarré, mestre do Gonzaga e do Assis Brasil.
Durante todo o curso primário – as três primeiras séries vencidas em Bagé, na hoje Escola São Benedito, e as duas outras em Pelotas, no Grupo Escolar São Vicente de Paulo, na rua Anchieta, ao lado do Ginásio Assis Brasil – minhas melhores notas sempre foram obtidas em História.
Exemplos: no terceiro ano primário, ainda morando em Bagé, enfileirei seis 10 consecutivos em Estudos Sociais. Na Escola Técnica de Pelotas (ETP), atravessei os quatro anos do Ginásio Industrial (de 1965 a 1968) com média 9 em História.
Eu devorava os livros didáticos daquela disciplina como se fossem romances. Lia-os de cabo a rabo assim que chegavam da livraria, ainda cheirando a tinta. E também gostava de estudar os fatos históricos – guerras e revoluções, principalmente – narrados nas enciclopédias que tínhamos em casa: Delta Junior e Conhecer.

Seres das trevas
Acontece, porém, que, no segundo semestre de 1971, já com dezoito anos na corcova, cursando a última série do Clássico no Pelotense, passei a circular pela noite pelotense. Conheci então uns seres das trevas, pessoas não-recomendáveis, frequentadores de botecos esquivos que passavam a noite a filosofar sobre as grandes questões da humanidade.
Calma, sensato leitor! Essa nossa quadrilha de notívagos não gastava todo seu tempo nos bares, como podem pensar as pessoas bem educadas. Não! Nosso dinheirinho era curto. Por isso, boa parte das nossas horas escuras era gasta em longuíssimas caminhadas filosóficas pela cidade adormecida. Nessas incursões peripatéticas, íamos além das questões mais óbvias, que são: Quem sou eu e por que estou aqui? Na verdade, a dúvida que então mais me intrigava era: por que o shampoo acaba sempre antes do condicionador?
Discutíamos muito sobre cinema, teatro e literatura. Nada muito profundo porque tocávamos todos de ouvido. Ou seja, basicamente trocávamos impressões sobre o que havíamos lido em jornais ou revistas – Jornal do Brasil, Veja, Folha da Manhã e Pasquim – ou ouvido falar no rádio. Discutia-se política também, mas não muito.
Pois bem, numa dessas noites, noite infausta, conheci o Luiz Ricardo Ebling Lanzetta, que – cursando Comunicação – pode ter sido a pessoa que me desencaminhou para o Jornalismo. Ele já rabiscava seus primeiros textos no Diário Popular, onde sua relevantíssima missão era acompanhar os sofisticados e eruditos debates da Câmara de Vereadores. Além disso, garatujava – em cumplicidade com outro meliante, cognominado Ayrton Centeno – resenhas de filmes para o provecto periódico da Rua Quinze.
Mais tarde, já graduados em periodismo, Lanzetta e eu trabalharíamos em Florianópolis e em Brasília, onde, há poucos anos, criamos a Ordem dos Velhos Jornalistas Pelotenses Residentes em Brasília (OVJPRB), entidade secreta, de finalidade desconhecida, regida pela omertà (lei do silêncio mafioso).
Deus castiga os malandros
A verdade é que – entre outros motivos menos nobres – eu me inscrevi para o vestibular de Comunicação Social porque aquele era um curso que sempre tinha mais vagas que candidatos. Ou seja, minha decisão foi tomada basicamente por comodismo e covardia.
Mas Papai do Céu costuma castigar os malandros!
Ocorre que para o vestibular de 1972 foi inventada uma jabuticaba (algo bem brasileiro): a Múltipla Escolha. Em que consistia essa Operação Tabajara? Cada candidato poderia optar por três diferentes cursos. Depois, de acordo com a nota que obtivesse, poderia ingressar no que mais lhe apetecesse.
Esse mecanismo fez com que explodissem as inscrições para Comunicação Social, que se transformou em segunda ou terceira opção para muitos malucos porque a pretensão de ser jornalista, especialmente de televisão, começava a entrar na moda. Assim, os inscritos para Comunicação – que raramente passavam de uma dezena de gatos molhados – saltaram para 150. E as vagas disponíveis eram apenas 20!
Diante desse abismo numérico, entrei em pânico. Me vi fora do páreo. Eu já tivera uma experiência traumática ao ser reprovado no Exame de Admissão ao Ginásio do Colégio Pelotense, no final de 1963. O chamado Admissão era um vestibularzinho que se prestava ao final do quarto ano primário para cursar o quinto ano já em uma escola maior, que ministrasse também o ginasial.
Comecei então a estudar feito um insano.
Como na época trabalhava em um banco à tarde, bolei um plano de estudos para os dias que me separavam das provas. Em casa, sozinho, três horas pela manhã, mais três horas pela noite, eu mergulhava na livralhada. Resultado: acabei ingressando em uma boa posição. Em terceiro lugar, me parece, vencido por duas colegas que haviam feito cursinho preparatório, novidade na época.
Reconheço, porém, que devo minha aprovação principalmente aos ótimos professores do curso Clássico (noturno) do Colégio Municipal Pelotense.
Um único caderno
Transcorrido meio século, guardo até hoje a agenda de capa azul – Calendário Pombo – que me serviu de caderneta de anotações para quase todo o curso de Comunicação Social. Foi meu único caderno universitário. Só não chegou até o final do curso porque lá pelo terceiro ano parei de registrar ali o que me ensinavam os mestres.
Na sua primeira página, escrevi:
“Introdução às técnicas de comunicação
Jornalismo em Roma
Álbum – Roma – Resíduo dos acontecimentos durante o ano acontecidos no Senado e era afixado à porta da residência papal.”
Coincidência ou não, eu trabalharia depois por mais de duas décadas como redator no Senado Federal.
E, sinceramente, peço perdão pelos “acontecimentos acontecidos”.
Em números exatos, éramos na Comunicação Social uma turma de vinte: mulherio numeroso e uns raros marmanjos: Inácio Luiz Barbosa Soares, Fernando Laranjeira, Luiz Carlos Wolfehil Neto e eu.
A República do Canudo
Ingressei na universidade empurrado pelo meu pai (e pelo senso comum) para obter um canudo, que no Brasil é – em tese – o meio mais seguro para alcançar uma vidinha menos sacrificada.
Mas, insisto: eu não pensava naquilo.
Não pensava nem em estudo nem em trabalho. Era jovem, estava vivo e queria me divertir nos finais de semana. Só isso.
Hoje, olhando para trás, sinto que, como grande parte dos universitários daquele tempo, eu era apenas um catador de diploma. Assistíamos as aulas sem grande interesse certos de que um dia receberíamos um canudo e obteríamos um emprego decentemente remunerado.
Alguns miravam um objetivo mais modesto: conseguir com a conclusão do curso um modesto aumento nos seus contracheques de empregados públicos. Os ainda mais humildes contentavam-se em ganhar um canudo para pendurar, emoldurado, na sala.
Para alcançar essas metas, éramos obrigados a enfrentar disciplinas estranhas como Doutrina Social da Igreja e Estudo de Problemas Brasileiros (EPB).
Para ser verdadeiro, devo admitir que havia gente séria e decidida a estudar com afinco para assumir depois uma função importante nessa nossa maravilhosa sociedade. Não era esse o meu caso. Nem o dos piadistas com os quais eu compartilhava as caminhadas noturnas.
Quando confesso que fui um universitário desatento e relapso – um aluno meia boca, digamos, em pelotês puro -, não falo só de mim, não. Creio que estou sendo o porta-voz de uma boa parcela de certa geração que viveu aqueles anos loucos 1970.
Aposto meu pescoço que os estudiosos eram minorias em todos os cursos. Os displicentes discentes de Jornalismo não eram nada diferentes dos, por exemplo, dos enroladores do curso de Direito. Estudei por três semestres na velha Faculdade causídica da Félix da Cunha e o panorama que vi por lá era mais ou menos o mesmo. Havia, digamos, uns 5% de Caxiões contra um manada de sonâmbulos que empurravam a grade curricular com a barriga.
Pensando bem, eu não era o pior dos alunos. Ouvia com certa atenção o pouco que me interessava – alguma coisa de Filosofia, Sociologia e História – e de vez em quando até fazia uma pergunta. Que quase sempre trazia embutida uma piadinha.
Jota Pinho
A mais forte lembrança que guardo do curso de Comunicação Social é a do Mestre Joaquim Salvador Coelho Pinho, que nos ensinava Técnicas de Jornal e Periódicos.
Além de publicitário e jornalista de sucesso, Pinho havia transitado pelo teatro amador. Era, de fato, um ator consumado. Suas aulas eram encenações. Todos os seus gestos eram teatrais. Movimentava-se incessantemente pela frente do quadro-negro, falando e gesticulando. Mas, de repente, estacava dramaticamente. Quase sempre varado por uma pergunta idiota feita por um aluno coió. Jota Pinho então cruzava os braços, alisava o bigodão, passava a mão pela amplíssima calva e arregalava os olhos:
– Rapaz, repita o que disse, por favor!
Pinho fumava em sala. Ele e muitos outros pedagogos costumavam soltar uma fumacinha enquanto ensinavam. Aliás, também os alunos queimavam o seu tabaquinho. Na nossa turma, talvez a metade pitasse. Os não-fumantes que se rebentassem! Que enfiassem suas roupas fedorentas, todas noites, após as aulas, nos tanques de suas casas!
Por falar nisso, lembro ainda de outro lecionador fumacento do curso de Jornalismo, que depois viria a ser meu amigo em Brasília. José da Cruz e Souza, magérrimo, sugando um cigarrinho após o outro e escrevendo freneticamente na lousa, era o nosso professor de Ética e Legislação, ou de algo similar.
Inácio Luiz Barbosa Soares
Como tantos outros vagais, passei a maior parte dos quatro anos do curso no bar da Católica, tomando cafezinho, fumando e paquerando. Os recreios e os intervalos entre as aulas se prolongavam indefinidamente naquele salão muito amplo – invariavelmente tomado pela catinga dos pitos e pelo perfume das gurias – eletrificado por tantos jovens corações pulsantes.
Nas noites de sexta-feira, saíamos mais cedo da universidade para umas caipirinhas. O meu colega mais chegado era o Inácio Luiz Barbosa Soares, de São Lourenço do Sul, que em geral tinha que zarpar flechado do boteco para pegar o ônibus que o levaria até sua germânica cidadezinha.
Sentados lado a lado, Inácio e eu, atravessamos oito longuíssimos e áridos semestres. De estatura média, arruivado, já com o cabelo rareando na testa, ele ostentava uma larga barba de rabino ortodoxo, que lhe chegava, ampla e farta, ao meio do peito. O tempo todo Inácio cofiava o bigode, segurando-o entre o indicador e o polegar. De vez em quando alisava a barbaça vermelha com a mão espalmada. Fumante inveterado, também estava sempre fumaceando.
Divertíamo-nos muito também em sala de aula. Nos gloriosos anos setenta do século passado foi criada uma disciplina que tinha como objetivo – ainda que não expresso – louvar as realizações da Revolução Redentora de 31 de março. Na universidade, essa matéria se chamava Estudo de Problemas Brasileiros (EPB). No primário, ginásio e científico era Organização Social, Política e Econômica Brasileira (OSPEB).
Quando cursamos EPB, eu o Inácio inventamos uma maneira de movimentar aquelas aulas insossas. Lá pelas tantas, ele se levantava e citava uma reportagem da revista Veja ou do Jornal do Brasil em que era criticado o governo militar. Eu pedia a palavra para contraditar. Dizia que aquele veículo de comunicação – Veja ou JB – era um notório ninho de comunistas e que ele, Inácio, lendo aquele texto mentiroso, devia ser também um subversivo. Ele reagia me chamando de fascista. Começava um debate acalorado.
Inácio bancava o sujeito de esquerda (que mais tarde se tornou, creio) e eu defendia em altos brados o regime militar (pelo qual nunca tive a mínima simpatia).
Levantando cada vez mais a voz, de dedos esticados, trocávamos desaforos. Lá pelas tantas, preocupado, temendo que chegássemos à pancadaria, o professor nos pedia calma.
O comunicólogo John Smith
Havia uma disciplina que tratava de um assunto esotérico, futurista, que na época eu desconhecia inteiramente e do qual não tenho hoje a mínima noção.
Para dar respaldo acadêmico aos disparates que escrevíamos nas provas dessa disciplina, Inácio e eu inventamos um famoso comunicólogo norte-americano, o professor John Smith.
Ora, se dois alunos viviam citando John Smith em todas as provas, raciocinava o infausto professor, era certo que ele existia.
Uma das noites mais divertidas foi aquela em que o educador decidiu que a prova seria feita por duplas. Inácio e eu dividimos de forma equânime a tarefa. Ele escreveu o primeiro parágrafo e eu o segundo, e assim sucessivamente. Combinamos antes, porém, que um parágrafo não teria nada a ver com o seguinte. Aliás, decidimos que nenhuma frase teria ligação lógica com a que viria depois. Em suma, nada no nosso texto faria sentido.
Resumindo: mal conseguindo disfarçar os sorrisinhos marotos, elaboramos uma intrigante enfiada de sandices.
Deve ter sido duro para o pobre professor ler aquela maçaroca alucinada. Se é que leu. Se leu, entendeu necas. O fato comovente é que ele acabou nos dando uma digna nota: oito. Não reclamamos.
Inácio Luiz Barbosa Soares faleceu em 1988, aos trinta e seis anos. Sua figura, porém, sua figuraça, permanece na memória dos seus amigos de universidade, trabalho e botecos.

A Turma do Fundo
Os que mais se divertiam com aquelas palhaçadas eram os mais próximos de nós. Fazíamos parte de uma panelinha formada por cinco: Beth Nogueira, “Magra” Célia Scherdien, Regina Pederzolli, Inácio e eu. Éramos a Turma do Fundo – precursora dos grupos de autoajuda – que costumava compartilhar, com olhares espichados ou bilhetinhos, conhecimentos em dias de provas.
Eu não era chegado a fazer os trabalhos em grupo. Sinceramente, evitava-os sempre que possível. Mas havia uma senhora, contemporânea de minhas tias, Amália Schiavon, conhecida por Amélia, muito brincalhona, que sempre me dava carona nos trabalhos do grupo que comandava.
Embora estudando Comunicação à noite, e trabalhando num banco das 13h às 19h, decidi tentar o vestibular para Direito em 1974. Aprovado, fui levando por um ano e meio os dois cursos. O de Direito também era bem divertido com sua meia dúzia de professores, digamos, excêntricos.
Gostei de estudar Sociologia do Direito, Fundamentos do Estado e Direito Constitucional, mas quando surgiram disciplinas áridas, como Direito Comercial e Tributário, pedi o boné. Também foi determinante para o rompimento da minha ascendente trajetória jurídica a leitura de O Processo, de Franz Kafka.
De posse do diploma de Comunicação Social da Católica, consegui defender o feijão diário nessas últimas cinco décadas. Passei por todos os setores do jornalismo impresso: reportagem, redação, edição, editorial e crônica. Tive sorte de trabalhar nos anos em que a profissão alcançou seus melhores momentos no Brasil, antes de embicar para o rápido desaparecimento na virada deste milênio.
Se há uma grande diferença entre os universitários de hoje e os daquele tempo é que os jovens de nossos dias vivem assombrados pelo emprego. Melhor dizendo, pela falta de emprego. Ou, para ser mais exato, pelo desemprego. Estudam pensando em descolar uma boquinha e um salário numa boa empresa, tarefa que é cada dia mais difícil. Nós, não. Éramos desligados filhos do milagre econômico brasileiro (de 1968 a 1973, o nosso PIB cresceu a uma média superior a 10% ao ano). Nunca nos preocupávamos com trabalho, a oferta de emprego à época era muito boa. Talvez por isso, éramos mais brincalhões e menos rancorosos, embora vivendo sob um regime autoritário. Hipoteticamente, naquele tempo, arrancar o pão diário com o suor da testa era tarefa mais fácil de cumprir.
*Jornalista e escritor.