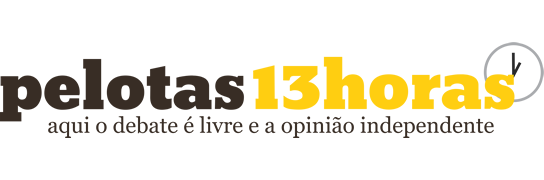Uma festa de arromba
Uma festa de arromba
Carlos Eduardo Behrensdorf*
Uma noite, quando voltava para o prédio onde ficavam os alojamentos da MP, ouvi a maior barulheira. Alguém festejava seu aniversário no terraço. Deixei a pistola no quarto, peguei um litro de Grant’s e me incorporei. O aniversário era do único iugoslavo da MP, o sargento Budimir, um grande parceiro. A cascata de uísque que rolou no terraço era de fazer inveja ao Mediterrâneo. O fogonaço transformou-se no tempero dos últimos dias de Pompéia.
Tchê, que colosso de festa!
Quando voltei para quarto, vi a “45”, abandonada sobre o travesseiro. Tive a famosa idéia de jerico: peguei a amiguinha, abri a janela, gritei happy birthday! e esvaziei o pente da dita cuja contra o muro alto. Pra quê? Metade do prédio desceu armada. O primeiro a chegar foi um canadense amigo, Otto Boiko. Na pressa, esqueceu os óculos e entrou enfiando o chifre no armário ao lado da porta aberta. Só disse a ele o seguinte: “Vou dormir, amanhã conversamos”. Entreguei-lhe a pistola, olhei pra cama e desabei.
Um relatório em inglês
No dia seguinte, me arrumei e fui para a sede da MP. Tomei o café, dei abraços especiais no Boiko, no Budimir, no Avigdor – um canadense ao lado do qual Schwarzenegger pareceria um Nelson Ned – e no meu “secretário” palestino, Athía. Coitado: mais magro do que a Peste, tinha três mulheres e oito filhos. Chegara a hora de conversar com o 1º sargento canadense, Teed. Entreguei o material da MP (caneca, cantil, talheres, coberta de cama, etc e tal). Ele perguntou se eu faria um relatório em inglês do ocorrido na noite anterior. Disse que sim. Sentei-me à mesa e escrevi. Entreguei a ele pedindo que corrigisse o que fosse necessário. Na metade da leitura do relatório, riu e exclamou: “Jísus Craist!” (Jesus Cristo!).
Fim do pastelão. Levantou-se e me deu um abraço apertado desejando-me boa sorte. Que canadense bem bom! Quando voltei ao Batalhão, quem é que me esperava? Ele, o soldado Canelão. Olhou pra mim, sacudiu-se rindo e disse: “Garufa, tu gosta de um rolo, hein”? Ele me chamava de Garufa quando estava se divertindo comigo. Um sargento me levou – outra vez – à sala do coronel Darci Lázaro. Juntei os cascos e me apresentei. O coronel foi lacônico: “E daí?” Eu: “Coronel, estou com o inglês afiado, pronto para colaborar em qualquer setor”. Ele: “Vais colaborar na cerca como qualquer soldado. Outra coisa, a língua oficial aqui ainda é o português. Dispensado”.
A “cerca” era de arame e protegia todo o batalhão. Nas escalas noturnas, era um saco. De dia, calor e poeira. Ou mais calor. Ou mais poeira. E na cerca fiquei até embarcar no Transporte de Tropas Ary Parreira para voltar à pátria amada, idolatrada, salve, salve.
Decepções e boas lembranças
Juntei algumas decepções. Em Jerusalém, um prédio com a seguinte fachada: Holly Land Night Club. Diziam que o espetáculo e as instalações eram acolhedoras. Não me lembro se anunciavam shows. Em Belém, a pressa dos padres que gerenciavam entrada e saída de turistas do local onde uma Estrela de Prata mostrava o local onde Cristo nasceu. Pagamento em dólares norte-americanos. O mercado de bugigangas na Via Dolorosa. O empurra-empurra no Santo Sepulcro, que era uma pequena caverna. Ampliaram. Hoje é acessível ao visual e ao toque.
Entre as boas lembranças: a caminhada na noite em Málaga e o show de flamenco na La nueva taberna gitana. A descoberta das ramblas em Barcelona. Fim do dia de Ramadã no Cairo, após os tiros de canhão e a festa culinária no Khan El Khalili, o bairro antigo. Na falta de grana, só restavam pombos recheados e arak. Beirute, a Praça dos Canhões e o Cassino do Líbano. Almoço com uma família libanesa em Broumana. As libanesas. Os libaneses. O povo do Líbano. O caminho para Damasco e o local da queda de Saulo.
O porto de Marselha com seus 200 anos – ou mais – era um dos principais pontos de encontro e comemorações da cidade. Em outubro de 1963, o TT Ary Parreira, no qual estávamos retornando, fez escala por lá. Desci fardado. Fui ao porto comer peixe e beber pernod. À noite, houve um aniversário e um baile de midinettes (costureirinhas). Só uma cordinha marcava o limite. Chamei o homem mais velho, me identifiquei e me deixaram entrar. Até dancei.
Só depois me disseram que o folgado que pulasse a cordinha (ficava um pouco abaixo do joelho) seria – digamos – estraçalhado. Depois: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pelotas, Brasília… Sigue el baile!
Um retrato
Antes de fechar a conta, antes de passar a régua, cabe aqui um retrato de um boêmio abstêmio, que atendia pela marca fantasia Canelão. Conheci Nei Carvalho Feijó na primeira metade da década de 50. Ele era baleiro do Guarany e fazia parte de um quinteto arrasador: Canelão, Carpim, Cueca, Romano e Zigomar. A Rua Quinze e os estádios de futebol nos aproximaram. Seu time do coração era o Grêmio Atlético Farroupilha. Antes dos anos 60, demarcamos nosso perímetro central. Quinze, da Pedro Osório até a Voluntários. Da “Volunta” até a Andrade Neves e daí pela Floriano até a Quinze. Pit stop: Casa Beiro.
Vieram as noites. Era chegada a hora de percorrer o Profano Roteiro que a Princesa nos oferecia. Estávamos superprotegidos. Éramos jovens. Caminhávamos. A Avenida Bento Gonçalves era longe. Imaginem a distância que nos separava das casas depois da Avenida!
Surgiram os bares, cenários de porres e histórias. Canelão não era de botequim. Não ficava muito tempo sentado em lugar algum. Não desligava o motor. Bebida? Refrigerantes! E o que era pior: dizia desaforos para quem saia com ele para “dar um bordo” e “ficava biritando”.
No início dos anos 60, Canelão foi para o Rio de Janeiro batalhar. Conhecia a Zona Sul e o Centro sem mapas. Sob a direção de José Oliosi, participou de uma fotonovela, se não me engano na revista Capricho. Era o bandido Valter, que morria no final com arma na mão. Copacabana sempre o ressuscitava. Em 1962, nos encontramos no Rio. Nossa meta: conseguir vagas no 11º Batalhão Suez, que iria para a Faixa de Gaza. Após comemorar a conquista da Copa do Mundo de 62, na rua Miguel Lemos, tomando chope de panela, tratamos da vida. Rumamos ao Ministério do Exército. Conseguimos as vagas.
Voltamos a Pelotas no final de 1963 cada um com suas histórias. Canelão ainda deu mais um tiro: viajou como tripulante num navio da Frota Nacional de Petroleiros, a Fronape. O navio ficou não sei quantos meses em reparo no porto de Hamburgo. Ele voltou a circular “na Velha Europa”.
Um balanço
Ninguém fica com vida mansa para passeios e outros penduricalhos adjacentes ganhando US$ 120/130 por mês, mesmo tendo o alívio de casa e comida… O “ninguém” refere-se somente aos soldados. Falando sério: o que leram até agora nada mais foi do que um amontoado de lembranças, humanamente histriônicas e marginais às exigências regulamentadas e obrigatórias dos quartéis. Valeu o aprendizado, a consolidação de amizades, a vivência como coadjuvante de um grande jogo e das preliminares de uma guerra, um dos negócios mais rentáveis do mundo, para os vencedores.
Sobre a participação dos militares brasileiros, preparo e despreparo, profissionais ou não, recomendo o estudo sério, competente, veraz e indesmentível: A histórias do batalhão de Suez: ações, reações e articulações cotidianas na Faixa de Gaza (1957-1967), dissertação de mestrado de Júlio Ribeiro Xavier, Pelotas, 2015, UFPEL, Instituto de Ciências Humanas
Fim
*Jornalista