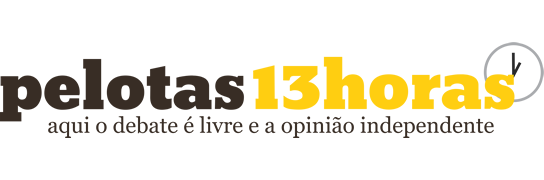A VERDADEIRA HISTÓRIA DA VILA DO SAPO
Lourenço Cazarré*
Comecei a frequentar a Vila do Sapo desde abril de 1963 quando – minha mãe (Odette, 31 anos), minha irmã Margarida (7) e eu (9) chegamos de Bagé. Doente, já desenganada, como se dizia na época, minha mãe veio para morrer, dois meses depois, na cidade natal, junto aos seus irmãos e mãe.
Casal destruído, o pai nos dividiu salomonicamente. Minha irmã foi viver com as manas da mãe – Maria (conhecida só como Lilia) e Edith (Dadá) – na Vila do Sapo. Eu fui parar na Zona da Luz, mais exatamente na casa do vô Leovegildo Cazarré e da vó Edméa, na rua Rafael Pinto Bandeira, a meia quadra do canalete do Pepino. E o pai voltou ao seu basquete em Bagé, onde gerenciava um posto de gasolina, nas proximidades do cemitério, no começo de uma carretera que levava ao coração do Uruguai.
Só dois anos depois o pai conseguiria um emprego em Pelotas, mas ganhando bem menos. Veio então juntar-se a nós e passou a trabalhar em uma distribuidora de produtos agrícolas nas proximidades da Santa Casa.
Fazendo uma poupança danada, o pai construiu uma casa – na rua João da Silva Silveira quase esquina com a avenida Olavo Afonso Alves – numa beirada de terreno (100m2) nos fundos da casa do Tio Zé, cujo terreno original era de 300m2.
Assim, em abril de 1968, cinco anos depois da nossa chegada a Pelotas, com a família mais uma vez reunida (o pai havia se casado com a Dadá), passamos a residir em um lugar que os moradores insistiam em chamar de Bairro de Nossa Senhora de Fátima, mas que a cidade toda tratava por Vila do Sapo.
Sinfonia dos batráquios
A denominação vinha dos fantásticos concertos da orquestra sinfônica da saparia, que fazia exibições de gala todas as noites, especialmente depois de uma chuva.
Aquele era um local peculiar porque em geral bairros e vilas ficam onde o Tinhoso perdeu os coturnos, distantes do centro. Não era o caso. De nossa casa, andando depressa – como sempre caminhava o pai -, em menos de dez minutos, subindo a Neto, estávamos na rua Quinze. Na Taperinha, para ser mais específico.
A construção da nossa casa, de setenta metros quadrados, consumiu uns dois anos. Nos finais de semana, o pai e eu pegávamos no pesado ajudando os pedreiros que ele contratava. Carregando tijolos e mexendo traçados de massa, arranjei umas mãos ásperas de peão de obra, mas isso não me incomodou porque na época eu ainda não me aproximava de garotas sem quase morrer de nervoso.
Napoleão e Maciste
Lembro de dois homens que trabalharam na nossa casa: seu Celso e seu Napoleão.
Seu Napoleão, além de pedreiro e pintor, era violonista e gostava de cantar uma música que começava assim: “Que bonitos ojos tienes/Debajo de esas dos cejas/Que bonitos ojos tienes/Debajo de esas dos cejas/ Malaguenha salerosa/Besar tus labios quisiera/Besar tus labios quisiera/Malaguenha salerosa“.
Um dia, o pai contratou esse Napoleão pelotense para que me desse umas aulas básicas de violão. Pobre homem! Certamente nunca teve outro pupilo tão incompetente. Eu gastava uns cinco minutos só para armar os dedos na posição de fá. E a seguir demorava mais uns cinco para passar para mi. Tenha dó!
Seu Celso era um morenão de um metro e noventa e voz de baixo profundo, grande amigo do pai. Como o Hércules ou o Maciste dos filmes que eu assistia, ele carregava as pedras do nosso alicerce como fossem tijoletas.
A primeira leitura
Tenho na memória uma ótima recordação da casa em construção. As paredes estavam já em pé, mas não havia telhado, naquele sábado que atravessei lendo A ilha do tesouro, de Robert Louis Stevenson. Foi o primeiro livro que devorei de cabo a rabo – acomodado em uns caibros, que seriam postos no telhado – de uma só tacada. Foi uma leitura feroz que me tomou um dia inteiro e boa parte da noite.
A ETP
No começo de 1965, aprovado em um exame vestibular já bastante disputado, ingressei no primeiro ano do Ginásio Industrial da Escola Técnica de Pelotas. Durante meus três primeiros anos por lá, como ainda morava na Zona da Luz, eu ia de ônibus até o Mercado e dali, marchando, à Escola. Em 1968, quando fui residir na Vila do Sapo, o trajeto até a ETP tinha que ser integralmente vencido na pernada. Os ônibus ainda não passavam pela Vila. Por baixo, eram uns quatro quilômetros.
Como as aulas começavam às 7h20 (se não estou errado), eu saía de casa meia hora antes, a passo de ganso. Quando nos aproximávamos da Escola, depois de cruzar a ponte sobre o Santa Bárbara e de passar pela frente da Usina, um inspetor de disciplina descia à calçada e começava a sacudir freneticamente uma sineta e a soprar um apito.
A garotada que estava por perto desembestava a correr. Quem chegasse um segundo atrasado, era barrado no portão de vidro marchetado. Nos dias mais frios aquelas correrias loucas eram boas para aquecer o lombo.
Surfando nas enchentes
No inverno, estação das chuvaradas, frequentemente as ruas da Vila ficavam alagadas. Sabia-se que havia umas “bombas” da Prefeitura, lá pela zona do Anglo, que “puxavam” as águas do Pepino. Mas sempre duas ou três dessas máquinas, ou todas elas, estavam pifadas. Assim, nas enxurradas, o nível das águas na nossa rua chegava facilmente a trinta centímetros.
Antecipando o surfe, nós pegávamos as tábuas maiores que estivessem por perto e as impulsionávamos sobre a água barrenta. Dava para deslizar, deitado ou agachado sobre elas, por alguns centímetros. Após o naufrágio inevitável, o piá mergulhava num líquido que lembrava café com leite. Pelo que me lembro, nunca tive uma mera indisposição estomacal depois desses “banhos”.
Com as ruas alagadas, de manhã bem cedo o tio Zé nos levava, a mim e a minha prima Maria Lúcia, até a ponte sobre o Pepino na rua General Neto. Íamos até lá calçando botas de borracha que nos chegavam aos joelhos. Passada a ponte, enfiávamos nossos sapatos escolares. A Maria Lúcia seguia para o São José e eu para a ETP.
Peladas nos campinhos
Depois das inundações, minha recordação mais forte é a dos campinhos de futebol que demarcávamos nos dois quarteirões (então desocupados) que ficavam exatamente por trás do campo do Grêmio Esportivo Brasil. Como as goleiras eram marcadas com chinelos, latas, paus ou cascotes (pedaços de tijolos), o tamanho dos campos variava muito. Formavam-se gramados para disputas de dois contra dois ou de dez contra dez. Os nossos incontáveis cachorros eram a plateia. Saltitando, rosnando, e mordendo-se, ficavam pela volta da quadra improvisada até levarem um belo bolaço no costado. Aí, se afastavam, ganindo.
Eu geralmente era destacado para o gol. Ou golo, como se falava naquele tempo. Preciso dizer mais sobre a minha habilidade com a peronha? Havia alguns bons goleiros, quase profissionais, digamos. Eram aqueles piás que não hesitavam em colocar a cara e as mãos mesmo nas divididas com os sujeitos de canelas mais reforçadas. Não era o meu caso, que só arrancava em direção ao atacante quando a bola já havia passado por mim.
Pescarias nas valetas
A terceira lembrança que me vem é a das pescarias nas valetas. O Pepino – que conduzia até o São Gonçalo as águas servidas da Zona Norte – era um imenso esgoto a céu aberto. Se a cidade podia contar com o canalete, as ruas da nossa vila tinham os seus próprios e pequenos desaguadouros. Eram as valetas. Mais conhecidas, num certo país tropical, como sarjetas.
Grosseiramente descrevendo, as valetas eram escavações feitas nas laterais das ruas de areia áspera, junto às calçadas (que na verdade só muito raramente eram calçadas com tijolos ou tijoletas), para que as águas pudessem correr por ali livremente nas chuvaradas. Negras ou verdolengas, de cinco ou dez centímetros de profundidade, essas águas estagnadas exalavam odores de notável pestilência.
Cada casa tinha uma pontezinha sobre o seu trecho de valeta. A ponte na frente da casa do tio Zé era alta, de cimento, bem construída. Pois ali era o meu pesqueiro favorito. Eu atacava o costureiro da Dadá, roubava um metro e meio de linha branca e um alfinete. Dobrado, o alfinete virava anzol. A isca preferida, abundante na região, era minhoca. Sempre conseguíamos pescar uns dois ou três exemplares de um peixinho de no máximo três centímetros que chamávamos Maria Gorda.
Espionagem no bar do seu Alfredo
Famoso na família é o caso de um mergulho em valeta protagonizado pelo meu irmão, o Guto, então com três anos. Certo dia ele e a Teca, nossa prima Isabel Cristina (à época com cinco anos), foram ao bar do seu Alfredo para verificar se o nosso tio (também chamado Alfredo), que havia amputado uma perna, estava biritando ou fumando, safadezas proibidas pelo seu médico.
Ao descobrirem que o tio Alfredo estava praticando simultaneamente os dois pecadilhos, os pequenos espiões saíram dali em disparada. Na pontezinha sobre a valeta, a Teca esbarrou no Guto que, vestido dos pés à cabeça, entrouxado num casacão, mergulhou de ponta-cabeça na água parada. A fedentina foi tanta que a Dadá, atarantada, não sabia se jogava fora o filho ou o agasalho.
Tio Zé
Meus parentes Cazarré sempre moraram na Zona da Igrejinha da Luz. Já os Cardoso da Silva, que residiram por décadas no cruzamento da Bento Martins com Tiradentes, começaram a migrar para a Vila do Sapo em 1958, quando o tio José da Costa Vera Cruz, casado com a tia Lília, iniciou a construção de sua casa. Ele trabalhava na obra nos finais de semana com a ajuda de seus primos Danilo, Paulo e Ari Plá.
Além de laboratorista do Moinho Pelotense, instalado na frente do porto, o tio Zé foi também – por sete anos – projecionista do cine América, que ficava nos começos da Rua Quinze. Ou seja, trabalhava todos os dias das sete da manhã à meia-noite e nos domingos da matinê à última sessão. Ao lado dele, na sala de projeção, aos quinze anos, assisti ao proibidíssimo O selvagem, com Marlon Brando. Mas eu era fã mesmo do Jerry Lewis, do qual vi toda a filmografia.
Com a casa pioneira quase pronta, mas ainda sem reboco, e sem as portas internas (os quartos eram fechados com lençóis), sem uma cerca em volta do terreno, tio Zé, tia Lilia, Dadá, as avós Guilhermina e Henriqueta e a prima Maria Lúcia instalaram-se por lá.
Os marrecos
As casas eram poucas, os terrenos desocupados eram muitos. Por isso, o tio Zé decidiu criar marrecos. De manhã cedo, eles saiam em fila indiana a zanzar pelas valetas e charcos do bairro. Sozinhos, naquele cômico caminhar oscilante, voltavam à tardinha. E nunca, como bem lembra a prima Maria Lúcia, um só deles foi roubado.
A Fábrica
Tempos depois, os primos de tio Zé – Danilo e Ari Plá – também construíram casas ali por perto. Os irmãos Plá, décadas depois, estariam entre os entrevistados de um livro sobre a Companhia Fiação e Tecidos Pelotense, na qual eles três labutaram por muitos anos.
Aliás, na Fábrica, como era chamada, também trabalhou por trinta anos a tia Lília, até se aposentar em meados dos anos 1960.
Recentemente fiquei sabendo que minha avó portuguesa – Henriqueta Simões – começou a trabalhar na Fábrica de Tecidos aos dez anos de idade, em 1909, e lá permaneceu até os 18 anos, quando se demitiu para casar.
O começo
Os primeiros moradores da Vila do Sapo foram – como registra o padre Viriato da Graça Bodas, em seu livro Paróquia de Nossa Senhora de Fátima – Subsídios para sua História – Miguel Tavares da Silva e Eloá Silva da Silva, que ali se fixaram em 1947, com a permissão do então prefeito, Procópio Duval de Freitas.
O bairro começou a se formar mesmo no governo de Mário Meneghetti (1952-1955), que melhorou o Pepino, traçou os arruamentos e estendeu até lá a rede de água potável. Em 1954, residiam no bairro 25 famílias.
Curiosidade: algumas ruas da vila formam um semicírculo. Começam e acabam junto ao Pepino. Por que foram desenhadas desse jeito, perguntava eu, guri bisbilhoteiro. Alguém me respondeu que foram traçadas em curva para evitar o vento. Será? Que falem os urbanistas!
Os moradores iniciais, na sua maioria, eram empregados ou do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (Deprec) ou da Companhia Fiação e Tecidos Pelotense.
As primeiras ruas a serem ocupadas foram a quadra inicial da João da Silva Silveira e o trecho da Frederico Trebbi que começa na ponte da rua Butuí. Nesse quarteirão da João da Silva Silveira foram construídos uns vinte chalés de madeira, financiados por um organismo público, sorteados entre famílias inscritas.
Padre Rambo
A história da Vila do Sapo confunde-se com a trajetória pelotense do sacerdote Pedro Balduíno Rambo, que faleceu aos 56 anos em um acidente de moto.
Em 1952, o bispo dom Antônio Zattera encarregou aquele religioso – nascido em 1903, em Montenegro, e formado em filosofia na Alemanha – de cuidar da alma e do corpo da gente que se instalava sobre aquele terreno inóspito (na verdade, um banhado), cortado por pequenas sangas, permanentemente alagado e dotado de umas poucas árvores enfezadas.
Trabalhador incansável, que tocava muitas obras ao mesmo tempo, o jesuíta comandou em poucos meses a criação de uma escola de primeiras letras, que passou a ser operada por duas professoras do município. Nesse prédio, o sacerdote reservou um salão-capela – dedicado à Nossa Senhora de Fátima – para missas, catequese e batizados. Mais adiante, foi instalado ali também um ambulatório.
Em um estudo acadêmico sobre o Padre Rambo – A trajetória do catolicismo na Várzea, em Pelotas, produzido por Alessandra Buriol Farinha e Fábio Vergara Cerqueira -, um antigo morador do bairro narra:
“O padre Rambo chegou do nada. Tinha um bar ali na rua da escola… Ele apareceu de motociclo, aquilo era fantástico de ver, um padre, de batina, com a batina levantada, andando de motociclo. Ele levantava (a batina), metia no cinto e andava. Aquilo era uma característica dele. E a moto era uma moto boa, uma moto alemã, grande, meio marrom, uma moto potente. Ele começou a aparecer no bar, pedia uma cerveja e um cigarro e ficava jogando conversa fora, depois levantava, pegava a moto e ia embora”.
Em 1958, o padre Rambo meteu na cachola a ideia de construir uma grande igreja, um santuário, naquela região que crescia aceleradamente. Agitador da comunidade, ele botava as paroquianas para vender rifas, promovia quermesses e pedia aos fiéis que levassem tijolos para a construção do novo templo. Foi por isso, dizem os fofoqueiros, que as obras tocadas na região passaram a sofrer uma baixa significativa nos seus estoques de tijolos.
Pedro Balduíno Rambo pegava no pesado junto com os operários. E remunerava com copos de cerveja ou mata-ratos – do seu maço de Hudson sem filtro – os guris que convencia a atuarem como auxiliares da obra.
Para se movimentar entre suas muitas atividades (Santa Casa, Beneficência e Seminário), o sacerdote se utilizava de uma motocicleta. Morreu montado nela, no dia 3 de dezembro de 1959, quando ia do Bairro de Fátima para a Residência dos Jesuítas (na confluência de Tiradentes com Barroso). Foi colhido por um caminhão naquele cruzamento. A moto foi arrastada por alguns metros, jogada sobre a calçada e imprensada contra uma árvore. O sacerdote sofreu diversas fraturas graves. No leito em que morreria pediu que perdoassem o motorista do caminhão. Uma pessoa registrou suas últimas palavras: Et verbum caro factum est. Tradução: E o Verbo se fez carne.
Porquinhos da Índia
O Santuário de Nossa Senhora de Fátima foi inaugurado em 13 de maio de 1965 e passou a ser tocado pelo padre Viriato da Graça Bodas (1914-2011). Sob as ordens desse rigoroso sacerdote, cuja caturrice lusitana jamais cedeu à pretensa descontração tupiniquim, trabalhei com meu pai em uma quermesse. Operamos a banca dos porquinhos da Índia. Levantava-se um balde, e o porquinho, empurrado pela gritaria dos apostadores, saía correndo e enfiava-se em uma das várias casinhas numeradas. Quem tivesse o número dela, ganhava uma prenda. O pai, que não era cristão dos mais praticantes, costumava frequentar as reuniões da paróquia. Mas, segundo maledicentes, era só para dar palpites. Não era muito chegado em meter a mão na massa.
*Jornalista e escritor.